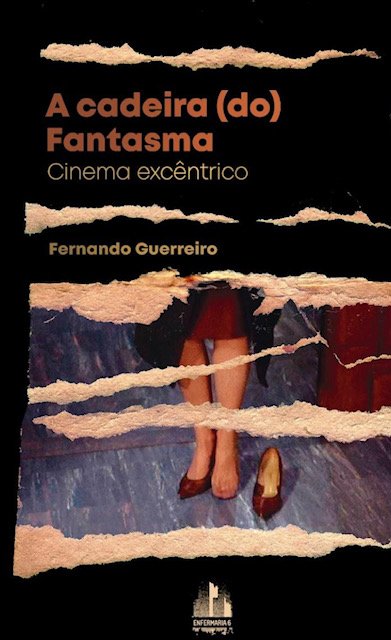Godzilla Minus One
/GODZILLA MINUS ONE de Takashi Yamazaki (2023), filme da Toho produzido no quadro da celebração dos 70 anos do primeiro GODZILLA de Ishiro Honda (1954), é uma obra bem interessante e por várias razões (está mesmo prevista uma versão a preto e branco do filme - num gesto semelhante ao de Zack Snyder com LIGA DE JUSTIÇA - para este mês). Antes de mais, pelo modo como se inscreve na tradição nacional da cultura e do cinema de guerra (mas também do imediato pós-guerra com a ocupação americana) - aspecto bem patente no modo como respeita a questão da "honra" (que trabalha o personagem do piloto kamikaze, Shikishima) ou a da solidariedade de grupo (entre ex-combatentes mas também, num registo mais melodramático, entre pessoas que não se conhecem - a família obra das circunstâncias- ou vizinhos /Sumiko/)-, fazendo-o para, no quadro do seu "isolacionismo" de base, popular (manifesto na descrença em relação aos poderes, americano ou japonês), dar a volta à situação, mudando a "cultura de morte" (de que tanto se aproveitou o militarismo dos anos de guerra) numa "cultura (colectiva) de vida" (de que um dos exemplos é o pormenor acrescentado da cadeira ejectável do avião usado por Shikishima no combate final com o monstro). Um "isolacionismo" que deve ser também pensado em função da defesa de um modo de produção e de cinema (artesanal) nacional. Interssa-nos mais, contudo, a problemática da IMAGEM no filme e em particular esse "artefacto" (construção, monumento) que é Godzilla - aqui, como em certa medida já no GODZILLA de Gareth Edwards (2014), talvez pela sua proximidade, por assim dizer "telúrica", com o mito -, um monstro VIVO, com uma "persona" própria (por isso é saudado pelos marinheiros quando julgam té-lo afundado, abatido) e que incorpora em si (algo, aliás, típico das versões nipónicas) a HISTÓRIA (neste caso a radioactividade que lhe muda o corpo e faz dele uma "bomba" nuclear). Ao contrário dos Godzillas americanos , este é uma figura não seca mas HÚMIDA (encrespado como uma ilha, na sua dimensão vulcânica, o seu elemento, de que constantemente sai, é a água) mas também não empedernida ( reificada e parada numa fase arqueológica da sua forma e fantasma) mas ORGÂNICA, mutante (veja-se a sua "regeneração" molecular no fim). o "clou" do filme, claro, é a luta final entre a pequena armada "cidadã" (como é dito) e o monstro numa longa sequência tratada como um bailado (desenhado pela coordenação do movimento dos barcos e o de Godzilla) que envolve todos os elementos: a terra, a água e o fogo corporizados na criatura mas ainda o ar onde evolui, noutra dança sincronizada com os navios, avião de Shikishima. Assim, Godzilla é a "figura" não só de uma concepção de Imagem de cinema (uma imagem amálgama, sincrética, áspera e não resolvida, de vários componentes) como de cinema - um cinema metamórfico, terreno, que vai buscar substância imagética e fantasmática à própria matéria, convulsa, dos elementos da natureza). Como é que escrevia Breton em L'AMOUR FOU, referindo-se às imagens matéricas, construções heterogéneas de elementos pobres, de Man Ray? "A beleza será convulsiva /explosiva-fixa, mágico-circunstancial/ ou não será"