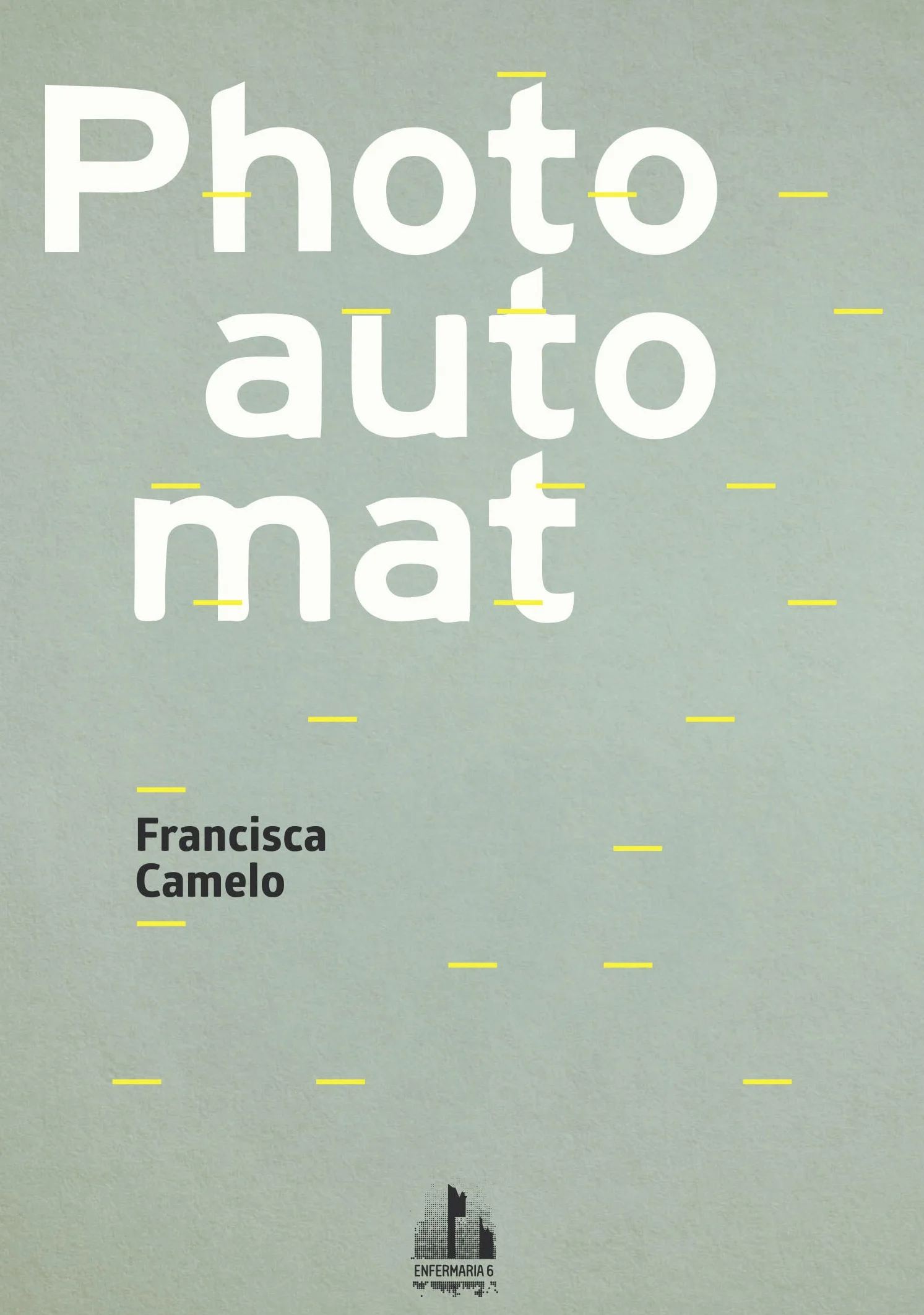Há uns dias, o filósofo francês Bernard-Henri Lévy disse que vivíamos pela primeira vez numa era sem esperança. Não sei se será bem assim, acho que houve outros momentos onde a luz parecia, depois de um grave declínio, esgotar-se definitivamente no presente. Porém, sinto que as crises ambiental e social actuais, mistura, heteróclita, de aquecimento global, perda de biodiversidade, sobrepopulação humana, migrações desreguladas ou querela de egos presidenciais, adensam as trevas.
Há uma história apócrifa do mito da caixa de Pandora (resultado de erros ou desvios nas sucessivas traduções) que inverte a narrativa da desgraça: o problema não teria estado na libertação dos males da caixa, mas no ter ficado lá o principal, a esperança. Resguardada, manteria o seu poder de perpetuar as crenças infundadas em dias melhores, uma espécie de alucinação optimista. Sem ela a humanidade teria desistido há muito, extinguindo-se jovem e bela, seguindo o imperativo ético da Grécia Homérica.
Como sabemos, os mitos dizem mais sobre a psicologia humana do que sobre a realidade que supostamente descrevem e avaliam. Somos, pois, animais estruturados, antropologicamente, em torno da esperança. As religiões e as bolsas financeiras, a política e a subjectivação, o enamoramento e a vendeta... vivem animadas pela esperança, que, deixem-me ousar, é mais primordial do que as pulsões sexuais freudianas ou a vontade de potência nietzschiana. É o magnetismo de um futuro amniótico, onde a vida de cada um e de todos estivesse totalmente imunizada.
É por isso que a utopia, distorcendo-se o sentido literal de “não lugar” para “bom lugar”, não cessa de nos obcecar. Ela alimentou a demanda do possível-impossível ao longo da história da cultura ocidental, força da imaginação em vista da inovação, espiritual e material. Paradoxalmente, nunca se desconfiou tanto dela como hoje, como nunca se empreendeu uma desmistificação tão firme da sua intrínseca bondade. Vivemos, para o bem e para o mal, na era da suspeita, talvez da hipersuspeita, revogaram-se o optimismo ingénuo e a idolatria do progressismo, até porque muitas utopias se transformaram, patologicamente, em distopias. Diz-se que o “tempo dos crentes cedeu o lugar ao dos críticos”. Às crises de que falei acima, junta-se uma contenção do campo irracional que perseguia, fanaticamente, a perfeição, a “cidade ideal”, vista agora como uma ideologia opressiva (a queda do comunismo estalinista e a vigilância massiva do pseudo-comunismo maoista, ou chinês, e das polícias secretas ou de mega redes sociais um pouco por todo o mundo influenciaram esta visão) deu lugar à “cidade do bem-estar”, houve uma domesticação dos possíveis. Resta saber se este realismo, um pouco triste, talvez demasiado prudente, vai perdurar ou é apenas uma paragem para que o sopro idealista descanse até ganhar novo alento.
Para ultrapassar o impasse que a desilusão utópica criou na vontade sonhadora da imaginação talvez possamos recuperar, pelo menos parcialmente, à maneira de um roubo selectivo, o que Michel Foucault escreveu em 1967 sobre heterotopias (“Des espaces autres”, autorizado para publicação em 1984, in Dits et écrits), esses outros lugares possíveis, mas esquecidos ou desvalorizados. Se as utopias são sempre “lugares essencialmente irreais”, as heterotopias foucauldianas mantêm uma relação tangível, ainda que complexa, com a realidade. São lugares afetivos, uma “espécie de utopias efectivamente realizadas”, simultaneamente distantes dos lugares habituais, mas passíveis de serem localizados e habitados.
Nesse texto Foucault enumera os jardins, os cemitérios, as prisões, os lares da terceira idade, os museus, as bibliotecas, os barcos... Mais do que caracterizá-los com a devida profundidade, Foucault pensa na criação de uma nova disciplina capaz de estudar as heterotopias, uma disciplina sonhadora, ou melhor, uma disciplina dos lugares sonhados, como em Nietzsche havia uma ciência do prazer, uma Gaia Ciência, que seria ao mesmo tempo uma ciência prazerosa e uma ciência do prazer (prefiro o “prazer” à “felicidade” por ser um termo bem menos teológico).
Numa abordagem sumária, refere o carácter universal das heterotopias. Primeiro, nas sociedades primitivas, heterotopias de crise, “lugares ou sagrados, ou interditos, reservados aos indivíduos […] em estado de crise”: adolescentes, mulheres com o período menstrual, grávidas, velhos... Estas heterotopias ainda subsistem, mas no essencial foram substituídas por heterotopias do “desvio”, aquelas onde se instalam os indivíduos à margem da normalidade.
Foucault vai apresentar mais cinco princípios, contribuindo para o esboço da nova disciplina sobre o espaço (que nunca chegou a desenvolver). Não é tanto isso que agora me interessa, quero antes pensar, num pequeno vislumbre, a necessidade de cada um de nós, pelo menos os mais iconoclastas, encontrarmos e cuidarmos, cuidando-nos, das nossas heterotopias. Esses outros lugares, um pouco de crise (é a nossa condição viver nela), um pouco de desvio. Lugares – jardins ou cemitérios, florestas ou esquinas de ruas, quartos de pânico ou cascatas isoladas –, que serão as nossas “utopias efectivamente realizadas”, onde a singularidade se poderá contemplar sem vergonha ou distrações e onde se comunicará com alteridades normalmente censuradas pelas forças da banalidade (Platão ou Kafka, por exemplo). Para mim, escolho a biblioteca, a de casa (pequena mas significativa), a de amigos ou pública. É nesse heterolugar que encontro a verdadeira espessura do tempo, preenchido por ideias luminosas e personagens resplandecentes, cheias de erotismo conceptual ou de força ficcional, é nesse lugar que adquiro o poder da emancipação. Aí, lugar de crise e de desvio, sou contaminado por um prazer que se assemelha ao das brincadeiras sem fim da infância. E, por isso, emerge o melhor que vive em mim, nesse lugar sou o melhor ser do mundo.