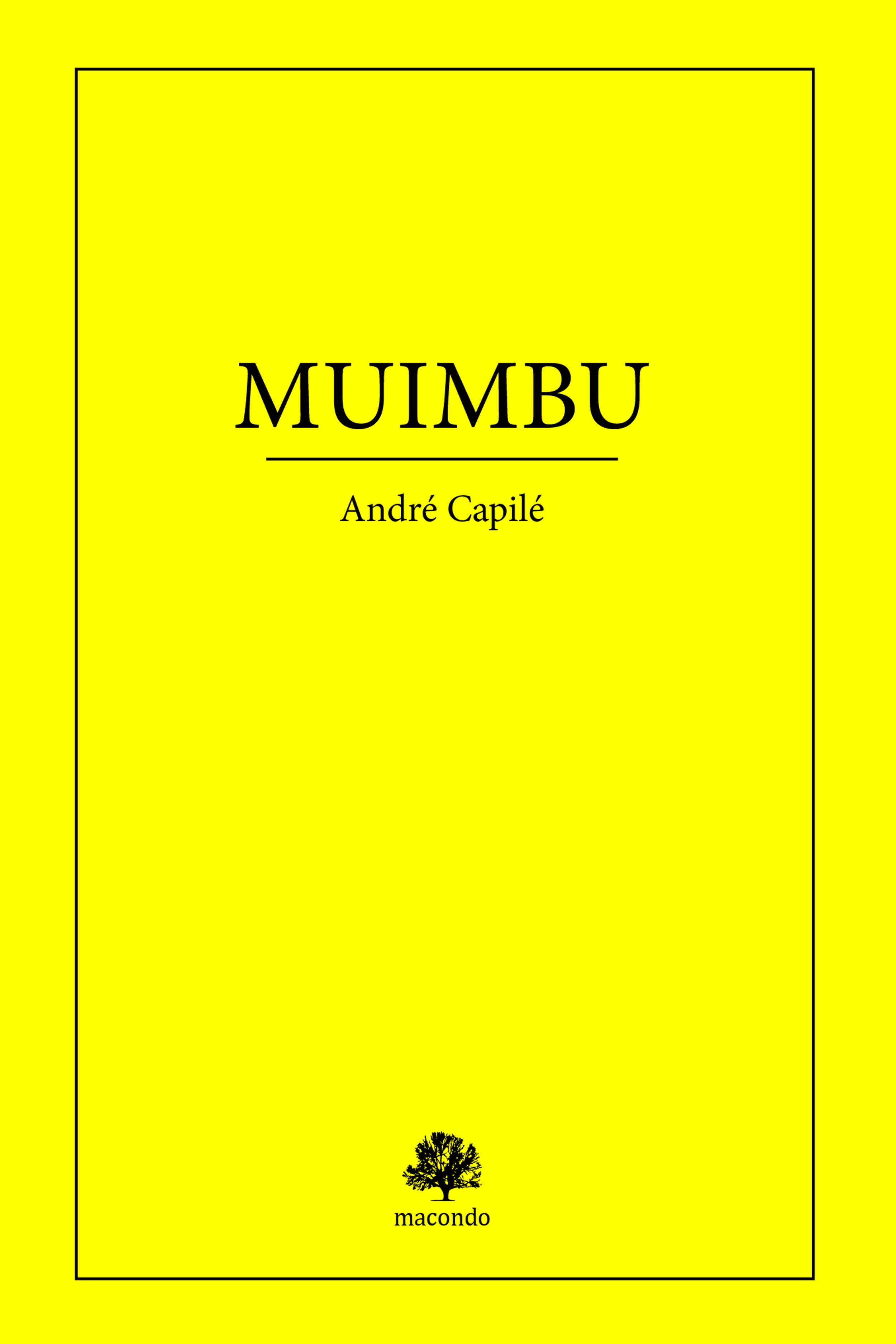«Por intermédio das palavras que flutuam à nossa volta, alcançamos o pensamento»
Friedrich Nietzsche
Maio Revisitado
/2002, fado das noites
de segunda-feira: dirigir
até a vídeo-locadora
para restituir os filmes
do final de semana.
Então sentia nos ossos
um prolongamento do estio.
Tinha os olhos embotados
como se alguém lhes soprasse
algo da poeira clara
dos jasmins macerados
e algo da eletricidade suja
da cidade, de seus prédios
brancos como intactos fósseis
de baleia no areal reencontrado.
Mirava a luz em torvelinho
nos alto dos postes: neblina
fina, amarela, granulada.
Respirava a desolação
acre das sarjetas:
em meio ao barro que secava
amontado de folhas castanhas,
restos de comida,
cigarros tragados e esmagados
por solas de sapatos
e ainda assim a cidade
esgotada era o meu amor.
Da juventude, remanesce
esse sentimento noturno.
Todavia, entre ontem e hoje,
um cais naufragou e não
os barcos que dele partiram.
Conheço apenas a deriva
e há muito deixei de crer.
Não acredito em minhas mãos.
Não acredito em meus amigos.
Não acredito na poesia
como algo que me transcende.
É, antes, a ressonância
da dor que me foi legada
por caber em meu próprio corpo.
No entanto, sei.
Maio também é um mês de repetições
e a verdade de suas noites
é caminhar sempre no mesmo jardim.
Idêntica, a relva massacrada. Idêntica
a cor do luar, cobre encardido,
e os ventos dispersos em grãos
de areia negra, poeira de carvão
contra o rosto, contra
uma vaga idéia de abandono,
desamparo, tédio. Idêntica
essa excitação nos ares
que me faz rosnar.
Tenho o coração aguilhoado
e quase me revejo
na noite passa diante de mim:
um espelho de água podre,
um cicio áspero de ramos
quando venta mais forte,
uma luz mortiça no interior
de uma casa em ruínas,
uma estátua na praça
recoberta de lodo e passado,
um fracasso diante de um poema
que exige algo como a fúria
exata e ideal.
Mas qual a fúria exata e ideal?
A fúria de ontem, que mantenho
como uma carta a mim mesmo
que o tempo revelou ridícula?
A fúria de agora, herdeira
de lirismos aleijados?
Ainda é fúria o que tenho
ou seria raiva – surda e subterrânea,
sentimento que mais plenamente
me irmana com os homens.
O que sobrevive, afinal?
Ainda tenho os olhos injetados
de poeira e eletricidade
e a noite de Maio, se manto for,
é cravejada de luzes duras
dos faróis dos carros e é
gelada como uma mancha de bolor
na parede do quarto.
Luz fuligem ferro carne
no acelerador de partículas
que estrangula a cidade.
Clarão imantado
sou eu próprio a comunhão
que renego, os olhos recobertos
por uma cicatriz de sal
e a língua ferida
por palavras tóxicas.
O céu se dilui em vapores róseos
e a noite é sujeira estática
como há dez anos
e como há dois mil anos.
Dentro de meu coração, grito
para uma fome dispersa em si mesma.
O amor, com a sua magreza de fantasma,
atravessa ossos e tecidos,
chega até a carne, marca o seu sinal,
e no desespero conflui
sonambulismo e insônia.
Recensão: É Agora Como Nunca. Antologia Incompleta da Poesia Contemporânea Brasileira
/1- Adriana Calcanhotto organizou uma antologia de poesia contemporânea brasileira. O resultado é o belíssimo É Agora Como Nunca. Antologia Incompleta da Poesia contemporânea Brasileira. Para o jornal Folha de S. Paulo, pouco antes do lançamento no Brasil, Fevereiro de 2017, pela Companhia das Letras (em Portugal foi editada pela Cotovia), ela que realizou parcerias com nomes como Waly Salomão, Augusto de Campos e Antonio Cicero, consolidando a sua carreira musical imersa na poesia, revela o sentido que tem compor-se uma antologia (“incompleta e autoral”). Reproduzo algumas ideias do artigo: “Leitora de poesia diletante”, quis fazer um livro pessoal, decidido pelo seu gosto pessoal (lembro que, em oposição, os juízos de gosto kantianos são universais), contendo num “único volume” o que queria ler durante as férias. Critérios hedonistas, pois. Para isso reuniu 41 poetas brasileiros nascidos entre 1970 e 1990. Poetas novos, novíssimos, inacabados, obrigando a autora, já durante o processo de compilação, a alterar escolhas porque um poema mais recente se sobrepunha ao mais antigo. Jovens poetas com as mãos amassando o barro linguístico, sem grelhas, onde o “verso livre [flerta] com a crónica”. Claro que há menções a Drummond, Leminski e outros, mas também “à grã-mestra Wikipédia”. É isso que, nas palavras de Adriana Calcanhotto, traz “um desassombro, uma não cerimónia com a poesia, usam palavras que não parecem, em tese, pertencer à poesia, coisas assim”. Finalmente, a autora revela, agora por ausência, outra característica desta antologia: a pouca atenção dada à política (pelo menos nos “enfadonhos sentidos partidário ou panfletário”). Surpreendente, até pelo período conturbado que se vive no Brasil. De qualquer forma, diz-nos Adriana, “Eles vivem no mundo de hoje e escrevem poesia, isso é um acto político. Poderiam estar calados.” Algumas destas ideias são retomadas na breve nota pessoal que abre a obra impressa, onde, além de pequenas indicações sobre a sua construção, acrescenta algo que me parece justo: “Depois do fim das vanguardas, ‘ficou ainda mais difícil’ escrever poesia.” Aumentaram as dificuldade porque, trata-se agora da minha voz, não é possível, sem que isso saiba a déjà vu, continuar a desconstruir os modelos assentes em sentidos reconhecidos como clássicos (ultra-classificações) ou regressar, num suspeito conservadorismo, às velhas fórmulas de codificar a linguagem poética.
2- Talvez eu me situe, enquanto leitor, entre T.S. Eliot e Marcel Duchamp: para o primeiro, “a significação de um poema existe nas palavras do poema e apenas nessas palavras”; para o segundo, mutatis mutandis, “São os observadores que fazem o quadro”. Atender às palavras e reconhecer que sou eu que acolho o poema, um eu inscrito num determinado horizonte de expectativas. Talvez não exista o leitor universal, como, em oposição, não é possível relativizar sem qualquer freio a interpretação. Trata-se de um perspectivismo sob controlo, equilíbrio frágil entre objectivismo e subjectivismo. Por isso, vou falar-vos da minha leitura, não sou, nem quero ser, um crítico profissional, que terá, se levar a sério o seu papel, de seguir Kant e a necessidade de escrever coisas que valem universalmente.
2.1- Mesmo assim, sem cair numa contradição estéril, a poesia, mais do que a prosa, faz reverberar em cada leitor atento qualquer coisa de eterno. É verdade que no caso desta antologia, resvalando tantas vezes, como foi dito, para um certo tipo de crónica, nos afastamos da metafísica, mas não irremediavelmente. São exemplos de descrições dentro da história (do tempo e do espaço, os grandes inimigos da metafísica) a “CASA DAS HORAS” de Victor Heringer, a “ANSIEDADE QUANTO A UMA ACADEMIA” de Ismar Tirelli Neto ou a “ZTARATZTARATSZTARATZTARATZTARATZTARATZTARATZ” de Marília Garcia. Em contraste, há uma boa dezena de haikus que aspiram ao a-histórico, mesmo quando se referem ao mundo das coisas e acções prosaicas ou fazem centelhar ideias e sentimentos do quotidiano. Esta ambivalência converge, contudo, para um campo comum: desenhar um método exploratório, investigando objectos e afectos, para revelar e manifestar as parcelas do vivido. A antologia foi, pois, retirada das circunvoluções do real, ainda que pareça haver uma deriva sem finalidade. Hoje, as escatologias assumiram a derradeira condição de ilusões espúrias. É isso que nos diz Leandro Durazzo: “[…] não acho justo / mas é / natural / que as coisas não fluam // nem tudo é rio”.
Porém, constrói-se uma espécie de micropolítica, de mundivisões e sugestões de organização social e mental. Não, como muito bem refere Adriana Calcanhotto, dentro dos habituais enquadramentos ideológicos e partidários, mas trabalhando numa analítica intensa e precisa para aconselhar passagens viáveis de dissensos a consensos (imperfeitos). Reconhecendo a irredutibilidade do mundo (real) e de nós nele. Destaco a quase epopeia de Donny Correia, “KANCER (SOLILÓQUIO)” sobre o compromisso possível entre um organismo e o seu parasita, o cancro (começa com a estrofe: “Quando me convenci / de que eu era imortal / veio o Doutor e disse: – É câncer...). Sem utopismos, pretende-se somente que o vital funcione um pouco melhor, escusando as velhas teodiceias que pretendiam extirpá-lo do mal, de todo o mal (em vão, como sabemos).
Destacaria outra linha de identidade, a de várias vezes haver uma mise e abîme da poesia. Pergunta-se pela poesia na poesia. Ou melhor, os poemas servem também para questionar, em sentido amplo, aquilo que incarnam (a poesia). Uma poética habitada pela metapoética. Velho dispositivo literário, é verdade, mas aqui essa torção sobre si, esse petrificar-se no reflexo de si conjura, mais do que é normal, a rendição ao puro exterior, como por vezes parece estar na moda. E não se vislumbra qualquer decisão forçada, este gesto estético (e político?) encaixa perfeitamente na Stimmung do livro.
Finalmente, sem querer esgotar a complexidade da obra, o uso da linguagem, seguindo Adriana Calcanhotto, parece fora da erudição poética, constroem-se poemas com ferramentas linguísticas simples. Mas busca-se também uma voz própria, cada um dos poetas experimenta uma espécie de idioma privativo feito dos materiais linguísticos reciclados do dia-a-dia (prosseguem, noutros termos, a dissolução da poesia de massas). Todos procuram a sua própria tensão e energia linguística, sabendo que, apesar de vivermos no tempo do desnudamento compulsivo, permanece sempre algo de inviolável, de impenetrável e de decisivo em cada indivíduo, neste caso em cada autor.
Apresentação de Cabeça de Cavalo de Mariano Alejandro Ribeiro e Muimbu de André Capilé (Colecção Casa de Barro, Edições Macondo, 2017)
/O poeta argentino, radicado em Portugal, Mariano Alejandro Ribeiro, convida o leitor a penetrar em uma poética densa, capaz de nos gerar o incômodo das leituras que não passam em desapercebido. O primeiro título da nova coleção das Edições Macondo, “Casa de barro”, Cabeça de cavalo é também a estreia do poeta no Brasil. Mariano Alejandro Ribeiro é uma dessas vozes que ficam, e demonstra toda a potencialidade da poesia contemporânea. No mesmo dia vem a público o segundo livro dessa coleção, Muimbu, de André Capilé. Nesse recente título o poeta reinventa sua prática litúrgica, exigindo da acústica o ritual da poesia, que perpassa a sua religiosidade e o “sensível invisível”, que se confunde com a “dimensão de autoria”. As Edições Macondo, Mariano Alejandro Ribeiro e André Capilé convidam para o lançamento de seus livros inéditos, que acontecerá no Museu Ferroviário de Juiz de Fora, no dia 01 de julho, às 15h. A partir das 17h ocorrerão leituras com os poetas que estarão apresentando suas obras, além de Prisca Agustoni, que já anuncia o próximo título dessa coleção.
APRESENTAÇÃO DA COLEÇÃO CASA DE BARRO
DIA 01/07/2017 A PARTIR DAS 15:00
MUSEU FERROVIÁRIO
(AV. BRASIL, 2001 – CENTRO – JUIZ DE FORA, MG)
SE ISTO AQUI NÃO É UM PRADO
Mariano Alejandro Ribeiro
Se isto aqui não é um fado
Decerto um amanhecer claro
O homem nu sai da cama
E abre as persianas
Da varanda
Com trezentos pássaros para nos recordar
Que nada do que temos é
Assim tão permanente
– Escuta,
Se isto aqui não é o prado
É certamente o pomar
Onde íamos ver as miúdas giras
Longe das ruas com nomes de marechais
Alemães
A mãe dizia que era por causa do colégio
Alemão
Figuras impolutas e ligeiramente suspeitas
Da cena pública imigrante na Argentina
Mas aqui ó todos dentro do mesmo saco
De papel
A sacudir o vento da revolução e a revolução
Que começa sempre ligeiramente ao lado
Do lugar previsto
E ligeiramente depois
Da hora marcada
E eu que nessa altura já estou à espera do 36
No Rossio
Para voltar
A casa
Enfim,
Se isto aqui não é um poema
Então é a graça do menino que ainda não
Cresceu
Baboseiras são lindas e macacos no nariz
A debruçar-se nas esfregas de Verlaine
E Rimbaud
Enquanto os pais fingem que entendem o que se passa
Na aparelhagem do jazz
Desemaranha os cabos
Liga a Nintendo
Ninguém está
A olhar
Tu seguras uma ponta da ponte, Charles
Eu seguro a outra
Ah Um
Ah Um
Dez anos depois o céu é rosado
O amanhecer, é claro
O homem nu abre as persianas da varanda
E volta para a cama
Não dá tempo sequer aos lençóis
De arrefecer
KISANGA
André Capilé
se forem feito passarinhos
vou dançar em suas alas
toda alegria de pluma
vou dar parto aos passarinhos
e se vierem com saúde
vou saber que se recusam
a irem ao bico dos ricos
o que recusam os passarinhos
nos converte em felizes miseráveis
pois para os que veem
o desespero da casa
eles tornam os pobres abastados
que invistam na casaca do desprezo
são muitos os fios do ninho
onde um ninguém vai se tornar famoso
e falam do ó da casa que abriga
lá farinha é pouca
o pirão dividido
e falam do ó da casa que abriga
chegarão soltos no mundo
para dizer se a água é boa ou não
não precisa medir cada fundo de vala
quem provou a doçura da terra
saudarei o olhar da esposa rival
se chamarem o mal voltará bem eu sei
cadeados não vão os trancar
nem eu os trancarei
um deus fica na entrada
outro mora na minha divisa
os feitiços não vão nos pegar
nosso lar tem o rei da gargalhada
sou pomba que delira no meio da águia
sou frente autoridade e aperto as mãos das deusas
e digo
não terão eles a cara do pai
é tempo de ter glória nessa vida
vou esfregar meus cabelos grisalhos
se quiser ver o cobre
pergunte aos cabelos grisalhos
se quiser ver sarar
pergunte aos cabelos grisalhos
se quiser paciência
pergunte aos cabelos grisalhos
se quiser um cativo
pergunte a sua cabeça primeiro
por favor hoje não tranque o portão
eles estão vindo
vão fazer minha vida muito próspera
os saúdo
em honra de meus ancestrais
serão lindos passarinhos
não devem fazer nada
além de vir de mim
Obediência
/Haviam-lhe dito que um descanso. E Pedro que sim, que uma paz, embora qualquer som, mesmo que só a antecipação, o arrastar miúdo que vem antes de falarem, o fizesse embater em estranheza.
Na noite, ninguém que uma palavra. Percebera-o a um toque de batuta que ninguém deu, mas que é o que há quando a mínima suspeição. A busca azeda do fim em que se metera o avô findara. E que com isso um descanso. À reação de Pedro, uma mão toda decisão com um hipnótico, com um apagão.
Acordara na manhã seguinte montada, igual. Gente como se marioneta, carros rotineiros, ponteiros no sentido comandado de sempre. E com isso a ida para a escola, como se dia. Como se dia, imagine-se.
(O meu avô morre, procura-se na morte, e há quem coma, quem trabalhe, quem como se nada, como antes de tudo.)
O absurdo, implodido em elasticidade, prolongara-se anos atrapalhados em anos. E nunca a certeza do que acontecera porque a mão em ordem com o hipnótico e com isso os músculos travados. E a manhã como se fosse possível voltar a ser dia depois de o avô.
(E a terra? Que restos? Braços ainda que abraçar? Olhos que conforto?)
Mais anos enovelados noutros numa incerteza de traça de ter de facto havido morte, porque só a ausência, só o nunca mais o ter visto, vendas, partilhas, uma força centrífuga em tios, primos.
É hoje 8 de dezembro de 2013. Agora o corpo em resignação de uma escrita. Estático. Alguns movimentos desde 23 de março de 1997, mas só coisa de ir passando. Haviam-lhe dito que também Deus e que com isso alguma coisa, mas Pedro que Não, que Se Deus, refinadíssimo, a um deslize, criara a morte, por que motivo a destruiria? Se os despojos de um corpo criação Dele, por que motivo a reconstrução do que está dentro? Por penitência Sua?! E que fazer com o absurdo de tudo isso?
(Avô?)
Agora nenhuma paz, todos os sons. Com isso a escrita.