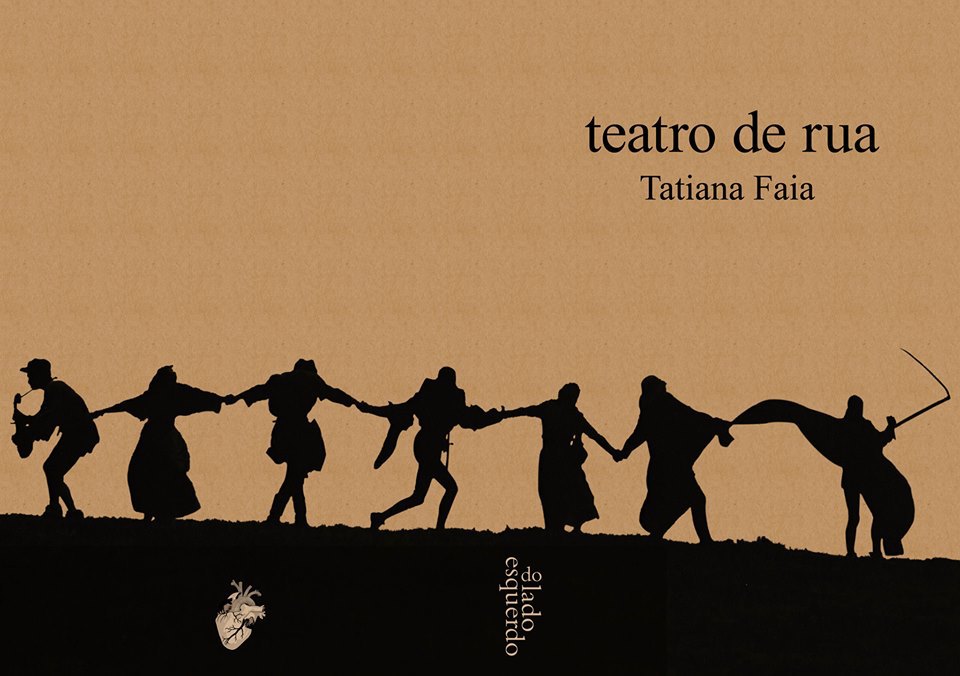Íris negra
/A partir de: Yukio Mishima, O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar e Enrique Vila-Matas, Suicídios Exemplares, «As Noites da Íris Negra»
Norubu acabara de pegar no almoço frio embrulhado em papel que a mãe preparara, antes de sair para a loja, em Motomachi. Os restantes elementos do grupo, o Chefe, o n.º1, o n.º 2, o n.º 4 e o nº 5 esperavam-no junto à linha férrea. Ele era o n.º 3, e tinha 13 anos. Os pais, como sempre, julgavam que eles iam nadar para Kamakura.
Vaguearam durante algum tempo. Alcançaram o Cais Ymauchi, em Kanagawa, fora da cidade. Encontraram um desvio ferroviário coberto de folhas e ferrugem, atrás de um hangar onde se lia «Propriedade Camarária», com vista para uma escola abandonada, com vidros empoeirados e partidos, e cadeiras que pareciam ter sido arremessadas para cima das mesas. O local ficava a céu aberto, e Norubu receva que Ryuji, o animal fantástico saído do mar que à noite dormia com a mãe, aparecesse novamente. Voltaram para trás. Mais à frente, encontram um armazém com uma enorme porta preta e um tanque onde, ao espreitar, podia ver-se um pedaço de mangueira rasgada. Sentaram-se aí para ter a reunião do costume, e discutir questões como a inutilidade da Humanidade e do não sentido da Vida e da sociedade, que não passaria de um banho romano misto, e da escola, onde um punhado de homens cegos dizia-lhes o que deviam fazer. Comeram sanduíches com vegetais crus e pastéis à sobremesa, e beberam chá gelado de garrafas térmicas, enquanto treinavam, ao olhar uns para os outros, a ausência de paixão absoluta.
Naquele dia, o Chefe tinha conseguido obter fotografias que mostravam duas pessoas a fazer sexo em posições diferentes, e explicou-as detalhadamente, para provar que não havia nada de especial naquilo. Enquanto falava, Norubu pensava na mãe, que espreitava através do buraco na parede, despida junto ao toucador, de olhos vazios como que arrasados pela febre, e com os dedos perfumados entre as coxas. Depois, o n.º 4 lembrou-se de que ainda não haviam encontrado um gato, razão por que ali tinham ido. Ao fim de algum tempo, viram um, e embora parecesse uma ratazana escanzelada, servia perfeitamente.
Passou de mão em mão, porque todos queriam sentir o seu coração, quente, batendo contra o seu peito nu, molhado. Quando finalmente chegou a vez de Norubu, o gatinho foi agarrado pelo pescoço e imediatamente lançado contra um cepo. Não morreu logo, por isso Norubu agarrou-o e lançou-o uma vez mais contra o cepo. Das narinas e da boca do gato escorria um sangue vermelho escuro, a língua, torcida, estava colada ao céu. Não sentira nada. A prova estava vencida.
O Chefe calçou as luvas e procurou uma tesoura no bolso da camisa. Furou a pele do peito do gato e fez um corte vertical. Debruçado sobre ele, começou a puxar a pele com as duas mãos, até chegar a uma superfície branca e macia, uma vida interior parada, branco lustrosa.
Não estamos ainda suficientemente nus.
*
Chegaram finalmente a Costa Brava, à aldeia de Port del Vent, onde o pai de Vitória, homem de notável mau feitio, que ela nunca chegara a conhecer, passara os últimos meses de vida. Disseram-lhe que morrera ao tropeçar no alto da igreja da aldeia, quando fazia de personagem secundária num filme rodado ali.
Vitória quisera ver o lugar. Na pousada onde ficaram instalados, conheceram Catão, o dono (com um nome que, segundo ele, dizia do imenso amor que os pais tinham à antiguidade clássica), que de imediato se ofereceu para lhes mostrar o cemitério onde estaria o pai. Catão mostrou-lhes Bonet, Sabdell e Norberto Durán. No túmulo do primeiro, pescador da aldeia, lia-se «Não te impeça o caminho da liberdade. Se te apraz, vive; se não te apraz estás perfeitamente autorizado para voltar ao lugar de onde vieste». No de Sabdell, poeta, cujo corpo desaparecera na mar, «Joan Sabdell. Nos dias ímpares, a vida afogava-o muito. Nos dias pares, a vida parecia-lhe uma faca sem lâmina a que falta o cabo». E no de Durán, médico da aldeia, «Nunca a fruta é tão saborosa como quanda passa; o maior encanto da infância encontra-se no momento em que acaba». Em comum, a inscrição tumular C.D.M.S.S.C. – «Morreu com dignidade. A sua sombra passa.» Todos eles tinham feito parte de uma organização secreta – a Sociedade da Noite da Íris Negra – cuja máxima era: desaparecer digna e serenamente após uma grande festa de espírito e após uma vibrante homenagem à amizade e ao amor à filosofia, à maneira de um Catão ou de um Séneca, cujas mortes seriam o mais perfeito exemplo e modelo do suicídio clássico e sereno, profundamente mediterrânico.
O pai de Vitória fora o primeiro a matar-se, a saltar para o vazio, do alto do campanário. Na altura ninguém esperava aquilo. Não tenham pressa, costumava dizer-lhes. O suicídio é um acto afirmativo, podem praticá-lo assim que o desejarem, qual é a pressa? Tenham calma. O que torna suportável a vida é a ideia de que podemos escolher quando escapar.
Catão e Uli, o irmão, homem de cabelos curtos e brancos e a cara muito sulcada, e com aspecto de passáro, que coxeava ligeiramente do pé esquerdo, eram os únicos que ainda estavam vivos. Uli vivia atormentado, por ainda não ter tido coragem de se matar.