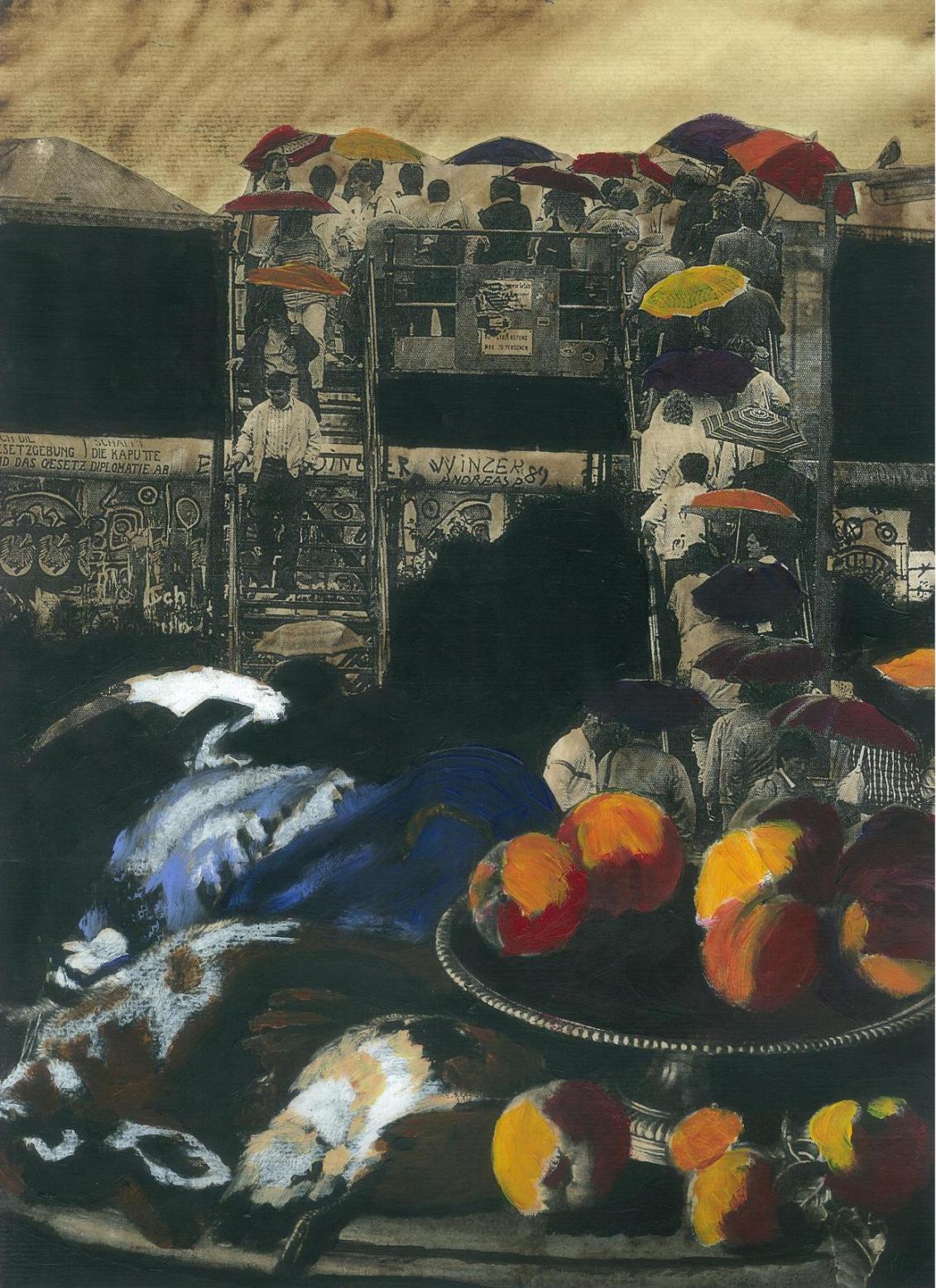tradução de Hugo Pinto Santos
em memória de Martin Bell
Ergui um barricada contra a grandiosidade.
Toda a noite, rompendo o nascer do dia e o meio da manhã
Que morre, a chuva tamborila num balde do pátio.
O meteorologista diz que vem aí o Inverno,
Como se o tivesse inventado. Ele que se foda.
Que se fodam o sol e os aeroportos e o prazer.
No interior, o vento poda os lilases.
Sabes o que isto significa. Estava capaz de cantar.
Há marinheiros de fim-de-semana que dão as cartas e praguejam.
O Canal está encerrado. Isso é bom.
Trancados à sombra da ampla ramada do dinheiro,
Cozinham-se almoços desesperados
A tempo das fúrias da tarde e de súbitos
Divórcios entre dívida e meios de produção.
Isso também é bom. Estas províncias estão encerradas.
Quanto a mim, imagino o Norte com a sua morrinha,
Um fumo fugitivo, chaminés que explodiram: terra
De mau tempo, com longas colinas de hospitais, terra
Do regionalismo dos males de contas, terra
De uma porfia sectária nas jurisdições de Sheffield e Hartlepool.
De regresso à terra, vindo de um mundo de distracção tardo-liberal,
A uma terra de chuva e de caminhos atulhados de folhas,
A toda uma vida a trabalhar e à espera,
O bar da central de camionagem quase a fechar,
Plataformas geladas de términos regionais vazios de promessa,
Terra de docas que morreram e de casas-modelo vandalizadas.
Terra de Noite de Travessuras e de Hallowe’en, das suas historietas,
Quando os bancos de jardim (repouso empapado de velhos sacanas de
[sobretudos a feder a cão)
Desaparecem, quando os funcionários da câmara arrastados do pub
vão dragar o lago do parque,
A ver as suas pegadas encherem-se
E a odiar as crapulosas vidas daqueles
Cuja crápula vive lá dentro. Terra,
Enquanto o domingo se estende até ao Inverno, um beijo friorento
Num portal, o programa religioso na televisão, as últimas bebidas antes de o
[bar fechar. Terra.
Chuva, com a paciência de um anjo, lembra-me.
Este não é o mundo da Miss Selfridge e da Sock Shop,
De lucro descartável e licra, bisbilhotice iletrada, desenrascanço depois
Da última fase de acesso à faculdade, Gestão de Empresas em Farnham.
Este mundo não é Eastbourne. Não tem opiniões.
Neste mundo chove sempre e o Inverno
Está sempre a chegar – renascimento da tuberculose
E The Sporting Green a afundar-se no escoadouro.
Aqui está a tralha que é deixada nas falhas
Entre as casas – ambiciosos sofás pretos de pele de sapo
E minibares que perderam peças, os catálogos
Feitos em papas, os objectos que não é possível nomear
E que dantes eram qualquer coisa com maçanetas,
E agora vivem aqui, junto aos tapumes, a peixaria,
O edifício cuja função já não se sabe.
Londesborough Street com o telhado destruído –
Aquele cheiro de quando o papel de parede se vai, enquanto
Chove no patamar, em cães de loiça, em fotografias
E antiquíssimas ideias feitas de recto servilismo.
Nada está seco. A fronha da almofada tirita de frio.
E a água trepa a tijoleira da copa
E o vapor ascende da grelha. Há funerais
A barrar a rua por mais de um quilómetro,
Enquanto os coveiros lutam com bombas de água e o padre
Tenta agarrar-se ao seu sotaque.
Chuva, com a paciência de um anjo, lembra-me
Outra vez a lição de onde eu vim
Com vestíbulos gelados e almofadas de borracha,
A inspecção de lêndeas, a cinza com um cheiro a humidade no pátio
E o andar de cima que é como o serviço de pneumologia do hospital.
Ensina-me que o tempo vai sempre piorar,
Perseguido pela frota do Árctico –
Tema de conversa na loja da esquina
E que vem à ideia quando se sai para o pátio,
Com sirenes de fábricas e barcos de ligação,
Ali, como uma promessa, no instante do anoitecer
Em que a chuva se faz neve e é Inverno.
Sean O’Brien, Cousin Coat – Selected Poems, Picador, 2001
Read More