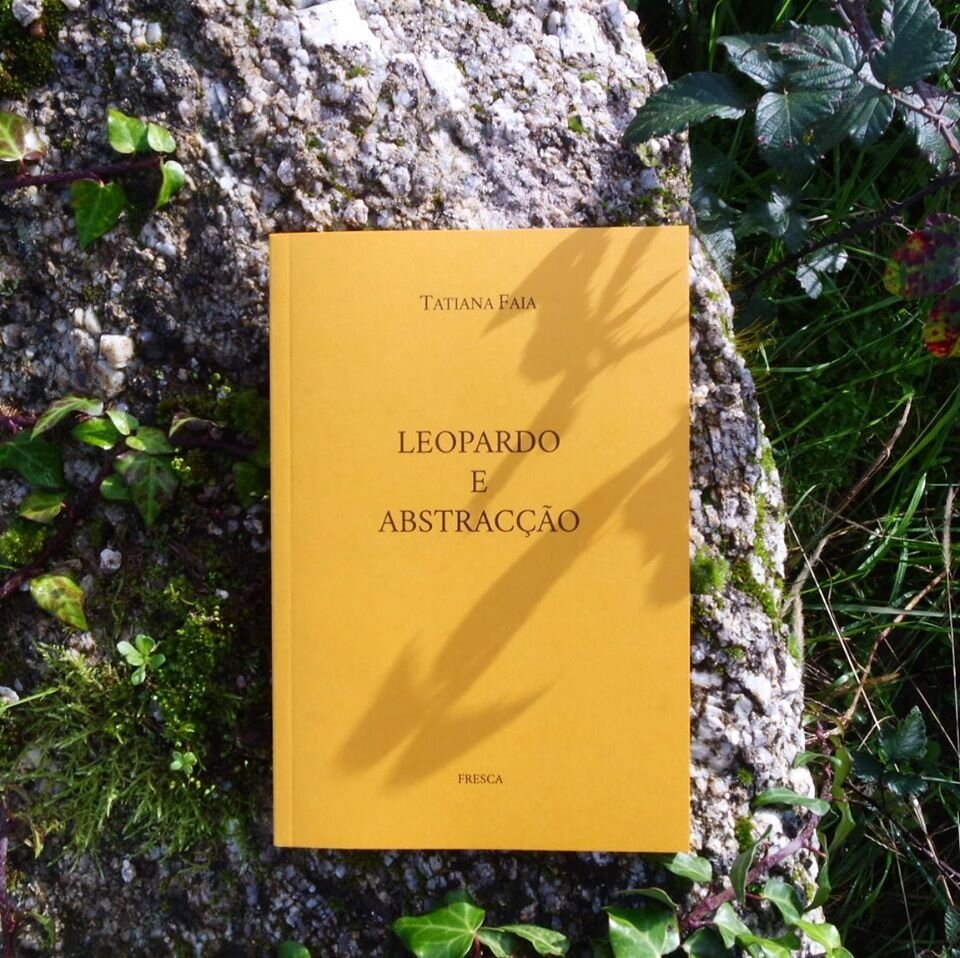Perguntas-me o que é uma esfera
/Perguntas-me o que é uma esfera e eu digo-te
depende da qualidade do som isto é quando é
quando é de manhã há sempre um halo de luz
da noite em que te encontraste com uma certa forma
como uma certa forma geométrica entendo-te
consolo-te digo-te gostavas de escrever para todos
não é gostavas que os teus ruídos fizessem
alguma forma de sentido para além da esfera
e vejo agora que te agrada o teu rosto
deformado nas mãos do metal e sabes
também eu já sei que me escondo por ti
que te acuso dos meus segredos e os vomito
como nos quadros de uma exposição entrando
dentro de uma alameda de plátanos que se dobram
para rezar confrontando o altar com as suas sombras
que nos deixam um sacrifício profano isto é
às portas do templo recapitulando cada geometria
como se soubéssemos o que é uma esfera isto é
um círculo que se estende como a tua estatura
pequena feita de pequenos saltos frequente
como uma qualquer comparação sem a partícula como
ou uma merda dessas que se dizem na escola
de olhos vagos macios terrenos co’a aspiração
a ser mais do que mais do que sabes
perguntas-me o que é uma esfera e eu
pobre de mim acabo de pisar um palco
e descobrir que ter voz forte é apenas contingência
e que uma esfera é o que nos permite ver
para debaixo o que está debaixo da máquina
a engrenagem que está debaixo e permite que haja
um pedaço de madeira a quem chamam palco sabes
por isso é que qualquer grande tragédia tem
a forma de uma tragédia isto é um momento
em que alguém se lembra que está sobre um palco
e que a máscara e que a pessoa desatou a ser
um bocado da mão um bocado do pé um pedaço da boca
e ganhou a forma de uma lenda de uma seta
e é por isso que qualquer pecado falha
como sempre falham as estrelas que nos enganam
como qualquer um que se preze até formar um gesto
perguntas-me o que é um astro o que um lírio
o que é um junco respondo-te se nunca viste uma esfera
é porque andaste distraída à espera de outra
de outra forma e agora agarra-te
porra agarra e eu segurar-me-ei
a ti à tua voz pequena sempre rouca
aos teus braços que não me podem segurar
e confiarei a minha solidão à tua velhice
que sempre acomete os plátanos e as lezírias
que sempre tomba como os gigantes nascidos
de pequenos vermes mesquinhos até à sofreguidão das esferas.