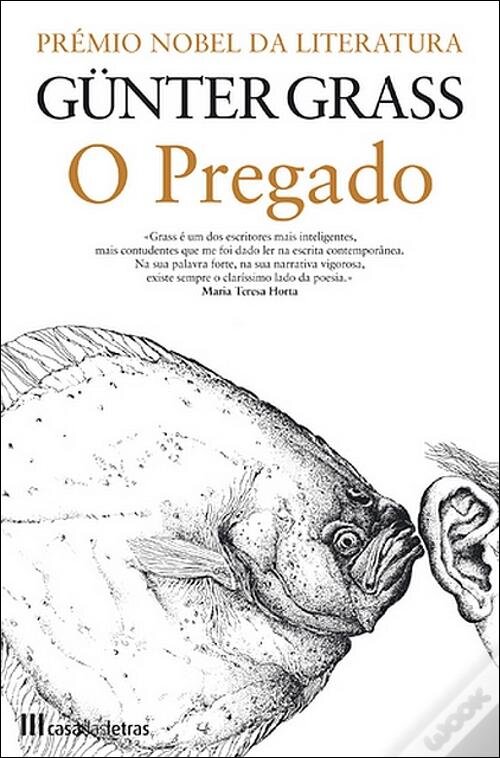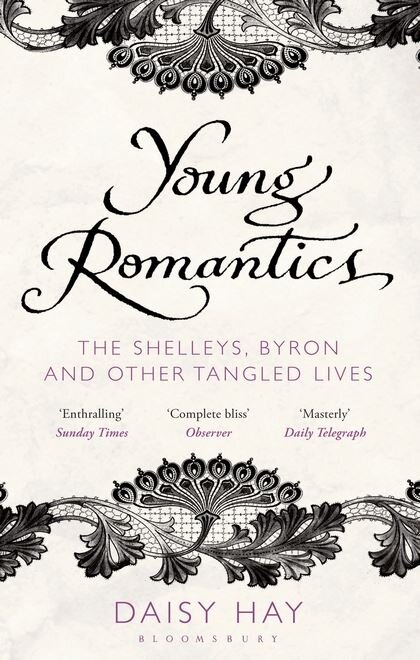AÇORES
/“Sovente il sole
risplende in cielo”
- Vivaldi (RV 117)
a Urbano Bettencourt
I
NOUGAT E GORREANA
Entre palavras o fio é retomado.
E doce é a entrega do encontro quente
essas mãos de apertada amizade.
Deitado em palhas
observa
o invejoso
o arranjo perfeito.
II
UMA VIZINHA COM ESTILO
Gata!
Uma espécie de leopardo das
neves
revestida de salgado marasmo
e lento tempo
desliza
não tem pressa.
O prazer traz entre as patas
e mia docilmente.
III
BANHISTAS DE OUTUBRO
A pele arrepiada do Outubro
submerge no líquido circular da ilha.
Nós aqui na esplanada frente ao mar
reencontramos o frio interior da espinha
como peixes que fomos.
Longe ela submerge para
dentro da nossa memória enquanto
à porta a nossa vontade espera.
IV
UMA ILHA CHEIA DE VIVENDAS
Vivenda Almeida Vivenda Botelho
Vivenda Soares Vivenda Maia
Vivenda Sousa Vivenda Melo
No presépio a rivalidade entre vizinhos
sempre foi muito intensa
Este é o meu palácio de dois metros quadrados
Este sou eu longe de ti, maldito!
No presépio as placas na parede de cimento
são sempre sinônimas de arame farpado
distância e chapadões.
V
ÓCULO DE BASALTO NEGRO
A Marquesa
senhora da alta elite
vai ao Teatro.
Hoje haverá Schubert e
notícias de Lisboa que
Dona Glória me trará.
Vestido o capote há que
espreitar através do óculo
o silêncio da calçada.
Não vá ela esbarrar com
Dom José de olhos gordos e
mãos ásperas.
“Se ao menos fosse pianista!”
VI
O DIABO DA FOME
Vermelho sobre branco.
Um papel mais velho do que eu.
Queria ter desenhado este sangue!
O diabo semeador de misérias
corre pela ilha procurando vítimas
entre as 11 e a meia-noite.
Dona Josefa nunca sai de casa
a tais horas não vá a corrente
do diabo agarrar-lhe a perna.
Mas às vezes arrisca e segue
para casa do padre Rui.
“Não há peito peludo má linde!”
VII
À CHUVA E AO VENTO
Meu rico Santo Cristo
mudo-te as flores todos os dias
a lamparina está sempre acesa
meu pão meu senhor meu bom amor
faça de mim uma mulher justa.
Ao relento numa parede do quintal
o moço no quadro em lágrimas
reclama tão triste destino
desprezado à chuva a ao vento.
VIII
UM LAGO DE METROSÍDEROS
Num jardim já sem grades
D. Carlos e D. Amélia sentados
numa esplanada não
apreciam as mudanças
“Corre tão depressa esse tempo
hoje, já reparaste?”
Indiferentes à mudança os metrosíderos
reúnem-se no vazio do céu
deixam entre si
no meio do jardim
um lago de céu azul.
Combinaram entre si manter a memória
do lago circular que os homens
insistiram em destruir.
IX
O ELEFANTE CINZENTO
Muitos nichos quadrangulares retangulares
pés direitos muito altos
basalto negro e cimento branco
uma alta chaminé sobre o dorso.
O elefante caminha lentamente
tem mil pés de aranha
tão finos que ninguém os vê.
X
MADRE MARGARIDA DO APOCALIPSE
Lembro-me do ano de 1988.
Havia crianças entre a entrada e o jardim
e eu morta conhecia ao fim de séculos
alguma alegria.
Na roda da dança havia sempre um
miúdo que olhava para mim
sentia-me viva.
Era o único que conseguia ver-me!
Hoje tento ir à janela mas não vejo ninguém.
Tenho por passatempo avistar o universo
na humidade das paredes mas confesso
que trocava esse universo pelo olhar
de uma criança um olhar vivo
um que me fizesse lembrar
padre chico meu perdido amor.
Vítor Teves - Ribeira Grande