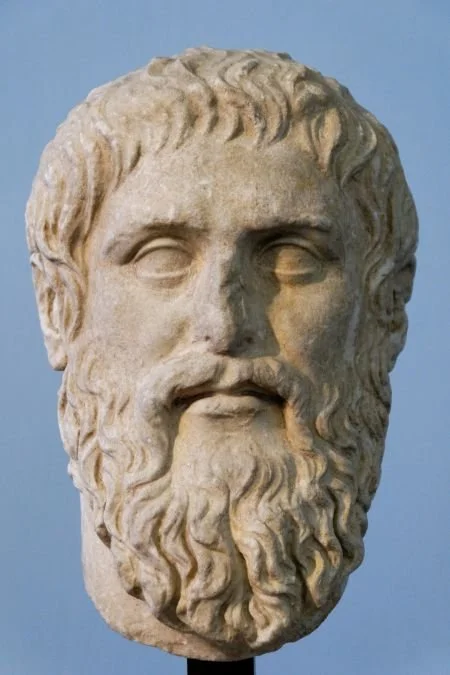mas esse homem gostava mesmo era da rinha. chegar no bar, tomar uma com mel, passar pelas mesas, cumprimentar as damas, atravessar a cortina de chita, a outra cortina de plástico, abrir caminho entre os outros alucinados. gostava assim, de chegar beirando o início. era como um ritual que se fosse quebrado, o azar também passaria pelas cortinas e seria instalado na escolha. blackout e os galos são cantados. no começo ele não percebeu, não se deixou perceber, apenas arrumava a franja e cuspia no chão. prezava pelo penteado a gel, pela sua gola levantada, pela sua fama de cão sortudo. lopez não tirava os olhos dele, nem quando disfarçava, olhava fundo o bico da bota ornada com o couro de cascavel, o chaveiro com um abridor de garrafas, uma pequeníssima e sorridente mulher havaiana e o chocalho da cobra que ele mesmo matou, todos sabiam a história, uma noite inteira de peregrinação no escuro, achar a borracharia e ainda voltar ao local com o carro orvalhado e manco, coisa de uma ou duas cobras no caminho, a depender do dia em que a história era repetida por mamú. jamais errou o galo e comemorava com os braços para o alto, sacudindo com o quadril o chocalho da cobra. às vezes gritava coisas como “ou ié” ou “nem deus chega perto” ou “foi assim que minha ex morreu”. lopez reprimia a louca vontade de se sentar ao seu lado na mesa, após as vitórias. o galo morto estará na cozinha, quase no ponto. o cheiro não mente, hoje o cozinheiro usou dendê. lopez ficava no balcão. raramente seus olhares se cruzavam e, quando acontecia, um dos dois ia ao banheiro, o outro ia ao caixa repôr o fumo, a pinga com mel de jataí, verificar se mamú, o dono da bodega, havia separado as balas de menta das balas de canela, os fósforos de cabeça vermelha dos fósforos de cabeça marrom, se certificar de que os corações de doce de abóbora estavam intactos e na validade para a meia dúzia de crianças que passava ali aos domingos. duas únicas vezes e por isso podemos chamar de dois milagres, duas vezes milagrosas em que tremeram os paralelepípedos daquela cidadezinha no velho goiás. o primeiro: ninguém foi ao banheiro e os dois se coincidiram na pinga com mel, nos corações de abóbora. um toque de joelhos e lopez olhava com a boca o chocalho e a havaiana, ele olhava com a pélvis as mãos de lopez. o momento que durou dias tirando a saúde de uma única fração de segundo. brindaram sem se olhar, “foi assim que minha ex morreu”, “saúde! saúde!”, cada um para o seu posto de vigiar o que não pode ser visto em direto, cada um em sua vigilante tensão. o outro milagre: a luta acabou e ele ficou lá atrás, debaixo da luminária com mau contato, olhando o cadáver do galo perdedor, sentindo o cheiro da cebola na panela que espera galo, com as duas mãos na cintura, talvez em lamento, talvez em reza profunda e silenciosa, talvez pensando naquela fresta de tempo no balcão, no voo das jataís, na gentileza de alguns insetos. lopez saiu da penumbra e se posicionou ao lado direito dele. lado a lado, duas golas levantadas, dois homens bonitos e pouco mansos, cada um à sua maneira, moderadamente brutalizados pelas quinas da vida, mas bonitos, destilados pela idade, pelo mel, pelo doce vendido como coração. rústicos por conveniência, por enfeite de alma que pode andar tranquila em terreno de olhos sombreados por chapéus imensos e coldres dos mais diversos couros. dessa vez foram os cotovelos, “o pobre não teve chance, lopez”, lopez apostou no pobre apesar de saber que o galo que ele escolhesse, seria o galo campeão. “nem chance e nem charme, lopez”, eles se olham sob a luminária, lopez fica azul, quase não respira e toma um tapa no peito, “cê é besta, homem? galo de briga precisa de charme? tava brincando contigo”. lopez forja uma risada, engole a risada forjada, passa o antebraço na boca, cospe no chão e entrega, “não gostei da brincadeira”. o clima é tão pesado que as penas do galo morto são tingidas de chumbo. o mau contato faz a luz oscilar cada vez mais e cada vez mais há mais espaço para o breu, cada vez mais. blackout. os homens se olham através do escuro, sempre se olharam. entre uma luta e outra, quando a luminária era apagada e mamú cantava os dotes dos combatentes, adaptados à escuridão, ele e lopez se olhavam, se olham pela escuridão, desde sempre se olham através do breu para que não fique claro que se olham. um brilho de lágrima, depois um anel de caveira, a pequena havaiana dança ao som do chocalho da cascavel. lopez enfia a mão no jeans dele e ele enfia os dentes no ombro de lopez. dois homens, duas jataís, duas bocas e mamú tateando o escuro à espera de alguma luz para apanhar o cadáver que estará depenado, desossado, amaciado por honradas botas de caubói.