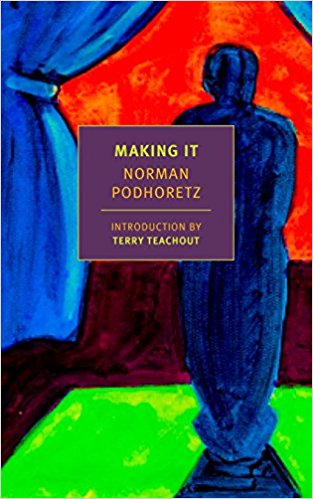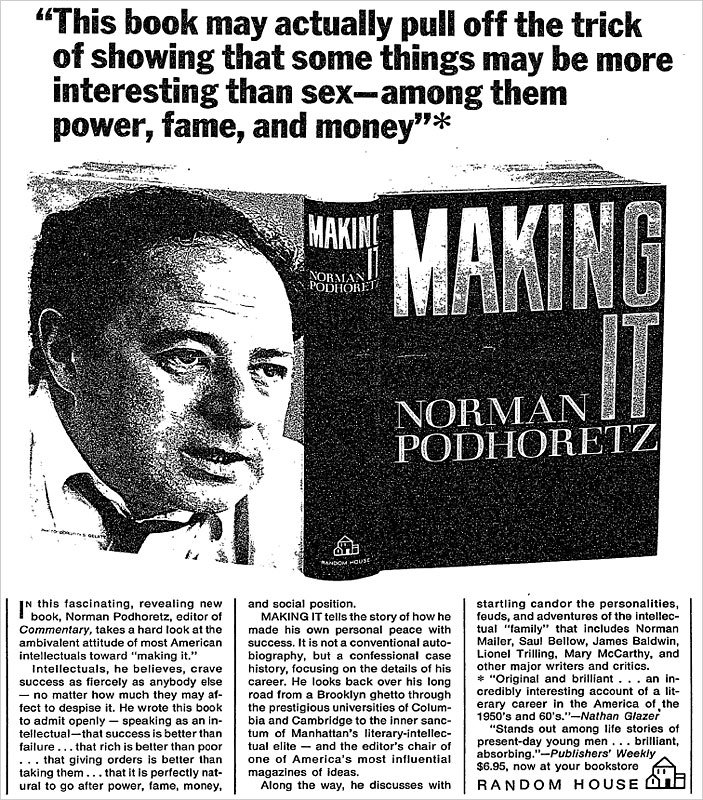Sobre o amor
/Para a Sara
O meu marido nunca me fará isto, diz ela, a minha mulher nunca me fará aquilo, assegura ele, e no fim, não bem no fim, por não haver fim para as histórias de amor, descobrem que são ambos humanos, que os contos de fadas que lhes haviam contado sobre o casamento não se enquadravam em nada com a natureza humana, ou melhor, que os contos de fada existem mas requerem afinações, exigem a inclusão de drama e dor, e que pouco ou nada se salvará um casal que não se deixe levar pelo sentimento que os une, o amor. El pasado, livro de Alan Pauls, é muito sobre isto de duas pessoas que todos, mas mesmo todos, sabem que se amam muito, quase ao ponto da loucura, perderem anos a destruir-se com acusações, com ódios, com rancores, com ciúmes e vinganças, para depois, exaustos de tanto buscarem alimento para o buraco negro que os consome, acabarem juntos, abraçados na cama, a não desejarem mais nada do que ficar para sempre ali, com o coração de um a fazer respirar o outro. Parte do problema passa por sermos animais idiotas, capazes de ir à lua, de fabricar foguetões, mas tantas vezes inaptos para enxergar o óbvio, o que está à frente dos nossos narizes. O óbvio, por exemplo, é a certeza de que o sentido da vida, ou aquilo que achávamos ser o sentido da vida - aquele sonho grande de ascender a rei e ser adulado por uma legião de fãs - , era um escape, um medo de viver a vida real, de amar o próximo, de ser frágil. O real sentido da existência é a menina que nasceu, o filho por vir, a partilha de um jantar, um sorriso, sentir o abraço daquela mulher ao nosso lado deitada, aquela mesma mulher que nos deu origem aos sonhos e nos fez bem, sem sabermos da existência desse bem. Causamos sofrimento ao outro tantas vezes por amá-lo, por ainda não termos crescido, por não sabermos o que fazer a um sentimento mais forte do que o cérebro, por não sabermos se o sentimento que nutrimos é correspondido, por mil e uma razões que nos desviam desta necessidade vital que é aprender a amar sem mais, com fé, com a certeza de que depois daquilo não haverá mais nada na vida a não ser escuridão. Em vez de raiva pelo mal que a pessoa amada nos causou, a pessoa em sofrimento pode assumir que esse mal foi causado por outro mal, e que esse outro mal causado por outro mal, e isto até ao infinito, até perceber que no peito esventrado circulam um amor e uma bondade superiores ao osso, à carne, ao pêlo, e que não há ego, orgulho, vaidade ou ressentimento que não se consiga vencer, quando dois corpos que deviam ser um só se encontram no mundo e não sabem existir um sem o outro.