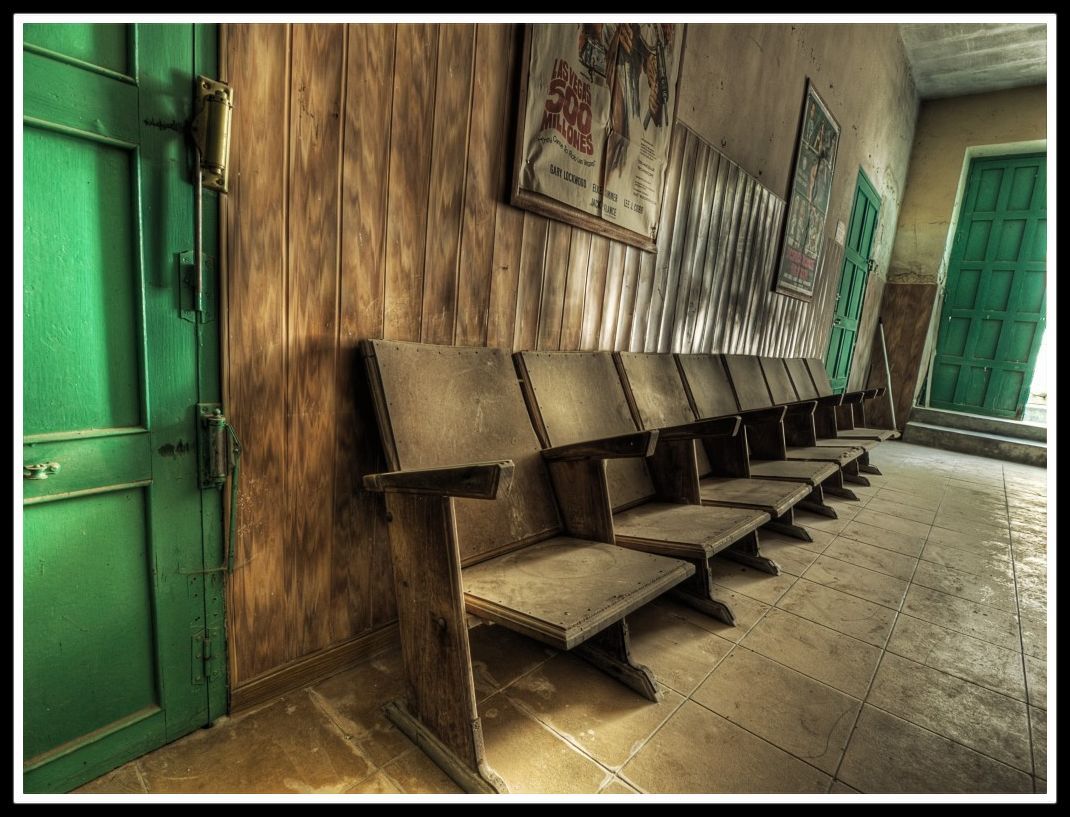Para uma Crítica da Razão Vitimista
/Gosto, sem reservas, deste provérbio italiano: “Os tempos são duros mas são modernos.” Sopro de sentido, mais rico do que o “materialismo dialéctico”, importante deus ex machina do século XX, traduz metade do actual centro bipolar: o cinismo. Peter Sloterdijk define-o, distanciando-o do moralismo iconoclasta de Diógenes no seu tonel, como “um caso limite de melancolia que consegue controlar os seus sintomas depressivos e manter-se mais ou menos capaz de trabalhar.” (Crítica da Razão Cínica, p. 31). A outra metade do falso centro é o vitimismo. Reconheço que ele é tão antigo como o sapiens sapiens (parece mais uma gaguez do que um marcador científico), somos desde sempre vitimistas, até porque no princípio, contra Rousseau, não havia qualquer idílio, a vida era brutalmente dura. Daí a necessidade de, além dos múltiplos mecanismos de resiliência, nos envolvermos numa certa auto-comiseração mitigante do niilismo que os golpes do acaso (podia ser uma terrível dor de dentes ou condições climáticas propícias à fome) lançavam sobre a humanidade. A excepção veio sempre de entorses culturais que valorizavam a honra e a coragem, um artificialismo, mesmo quando se dizia naturalista, como em Esparta, ou de seitas religiosas tanatofílicas (a libertação pela morte inverte o processo de vitimização no de culpabilização, redimido na morte).
Mas talvez hoje, herdeiros da última utopia panglossiana, manifestada nos discursos e em algumas realizações empíricas do Estado de Bem Estar (ou Estado Social), abusemos dessa medicina, um pharmakon que por excesso de uso passou de remédio a veneno. Por isso, devíamo-nos armar de uma Crítica da Razão Vitimista para esmiuçar algumas subtilezas que compõem este modus vivendi. Enquanto isso não acontece (se alguém já a escreveu, avisem-me), avanço com certas linhas de sentido para podermos desconstruir o primeiro vitimista que nos aparecer (com o cuidado de não ser o nosso reflexo no espelho).
Num pequeno exercício de objectividade, destaco nele as seguintes características: 1- segue a máxima de Jean-Paul Sartre “O inferno são os outros”. 1.1- Não porque tenha andado na guerra ou precise dessa expressão para fechar o círculo filosófico “do em-si e do para-si”, mas porque é uma sublimação básica da sua própria impotência. 2- O “outro infernal” é uma figura ou força opaca, o vitimista não perde tempo em análises, basta-lhe escolher um outro, às vezes plural, para “bode expiatório”. 3- Alia-se facilmente a outros vitimistas, tem tendências tribais, sofre atrozmente com a solidão. 3.1- Como seria de esperar, enoja-o todos quantos se atrevem a duvidar da sinceridade da vitimização, sobretudo os “espíritos livres”. 4- Mas, paradoxalmente, a sua impotência existencial não se reflecte necessariamente na performance sexual (daí continuar a reproduzir-se). 5- É manhoso e vingativo (finge-se frágil, pede piedade); mas se lhe dão poder esmaga o primeiro que lhe faz frente.
Actualmente, o vitimista profissional, ocupação mais disseminada do que a de advogado ou professor, aumentou tanto a frequência e intensidade dos lamentos, da auto-desculpabilização e da acusação de terceiros pelos males recebidos que é impossível distribuir a justiça pelo mundo. Noutros termos: uma boa dose de vitimização permite aos mecanismos sociais decidir sobre a inocência ou a culpabilidade, e assim distinguir com algum critério os canalhas dos anjos. Pelo contrário, quando quase todos se julgam vítimas (do Passos, do Sócrates, do Paulo, do Jerónimo, da Ângela, dos Americanos, do Capital, das Multinacionais, do chefe, do professor, da polícia, da Globalização, do árbitro, do vizinho, da Crise, do Norte, dos imigrantes, das mulheres, dos homens, do Euro, do Futebol ou da falta dele, da Maçonaria ou da Opus Dei, das leis da física ou das da biologia... Em paroxismo vitimista, um conhecido meu, especialista de práticas conspirativas na Web 2, diz que tudo não passa de uma estratégia dos Duques de Bragança para reeditarem o Absolutismo Monárquico.), além do chumbo emocional que esmaga toda a vontade de viver fora do “ai-jesus”, deixa de se poder fazer justiça porque tudo parece uma sopa turva onde não se distingue, mesmo comendo com o máximo cuidado, os bons dos maus elementos. É a amalgama do "nada vale porque tudo vale". O mundo inteiro parece inclinado a fazer-nos mal, e por isso aos sintomas depressivos do cínico Moderno junta-se a paralisia do ego sob o efeito narcótico da contínua perspectivação do outro como a razão do nosso sofrimento, ou seja, do vitimista.