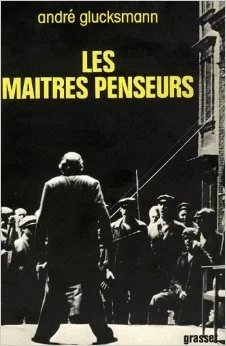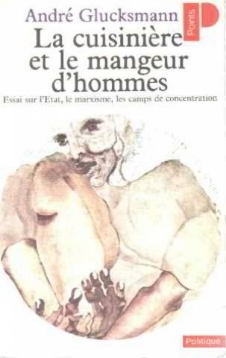Je suis Paris
/Paris, um certo Paris, foi atacado por cerca de uma dezena de terroristas que foram matar o maior número possível de pessoas. Não é preciso qualquer adjectivo para amplificar o horror que esta descrição provoca imediatamente.
Antes de mais, as minhas condolências, e as da Enfermaria 6, aos familiares e amigos das vítimas (mais de uma centena de mortos, muitos feridos, alguns gravemente, outros traumatizados, vivendo no horror de ter estado perto da morte ou de se terem safado, imaginando que terá sido à custa de alguém). Infelizmente, este meu impulso ético é irrelevante para o consolo dos vivos, mas é bom que a performatividade do que fazemos e dizemos seja também um exercício existencial, preparando-nos para viver numa comunidade. Neste caso, uma comunidade de vida, de vida e de liberdade, de liberdade e de felicidade, de felicidade e de fraternidade.
O que aconteceu em Paris parece resistir ao pensar, como se tivéssemos transposto a fronteira do humano. Mas não, foi só a repetição de cenas que acontecem frequentemente, embora com cenários semióticos e sociais diferentes, no Médio Oriente. O Impensável só nos embaraça quando se mistura com o pensável, isto é, quando um grande niilismo vem abalar uma ordenação que conhecemos (racional e afectivamente). Assim, sofremos, cognitiva e moralmente, mais com o esboroar da Ordem do que com o que provoca o Caos. O que nos choca sobretudo agora é muitas vidas cessarem, sem redenção, de estar connosco. Não queremos verdadeiramente, apesar do que se vai escrevendo, ir à fonte do sopro mortífero que apagou sem qualquer misericórdia todas estas magníficas vidas, cada uma delas plena, completa, exuberante..., cada uma delas sagrada.
É por isso que o discurso de vingança, directo e invertido, a definição intuitiva sobre quem semeou mais ventos para a tempestade assassina, polui o já de si toldado horizonte actual de sentido. Num dos campos, vemos nascer ou amplificar-se o ódio ao Islão, à teologia da morte do Estado Islâmico, ao terrorismo arcaico dos fundamentalistas islâmicos. Noutro, buscando a culpa infinita do Ocidente, há os que acusam incansavelmente a Europa de se ter posto a jeito ao participar militarmente no vespeiro político e teológico do Médio Oriente. Os primeiros, convocam para a marcha o velho reaccionarismo vingativo que nos alimenta desde a Grécia Antiga, as Tragédias clássicas sublimavam isso mesmo, sabendo que era imperioso conter no faz-de-conta estético os impulsos vitais do contra-ataque exterminador. Os segundos, em geral do campo da esquerda política, apelam à racionalidade e à compaixão (o que se assemelha a pedir a alguém para ter calma quando se lhe vai cortar uma perna), mas também a que o Ocidente assuma mais uma vez todas as culpas, mesmo se não as conseguimos formular, isso não importa realmente, é preciso, como em algumas personagens kafkianas ou na penitência cristã, ir à procura da culpa. Num caso como no outro, alimenta-se a fogueira, já bastante descontrolada, da vingança. Prevalecem os impulsos de morte (Freud), busca-se o prazer na destruição e não na afirmação, na morte e não na vida.
Se num primeiro momento parece que não queremos realmente tornar pensável aquilo que abre a condição humana a possibilidades que preferíamos guardar para outros seres, talvez só ficcionais, surge depois um imperativo, cognitivo e ético, que exige explicações. E, embora mergulhados numa irremediável linha de tristeza, começamos a ensaiar hipóteses sobre premeditações, porque é ainda mais insuportável supor a pureza de um acontecimento sem intenções. No meu caso, li estes ataques terroristas como um complemento ao ataque a Charlie Hebdo em Janeiro último. No primeiro caso, tratou-se de atacar um dos pilares do Ocidente: a liberdade de expressão. Agora, foi o outro pilar (não há necessariamente só dois): o do hedonismo. Veja-se que o bairro da République, o Canal Saint-Martin, a rua Bichat são locais de encontro e divertimento da juventude parisiense. O Bataclan é uma sala de concertos, local de felicidade musical e de contactos amorosos. O Stade de France, onde decorria um França-Alemanha, representa também, aos olhos dos super-sérios e míopes fundamentalistas, um lugar de diversão, de vida demasiado exaltante.
Ora, o que este islão rigorista, teológico até às entranhas, adito a ritos de morte, incapaz de lidar com a complexidade luxuriante da vida, temente à sexualidade partilhada mais elementar, com a preguiça dos que agem a partir de uma checklist de 5 mandamentos, alimentados por maniqueísmos elementares, o que este islão quis, dizia, foi degolar alguns dos principais campos do nosso estilo de vida.
Por isso, je suis Paris, aujourd’hui et toujours!