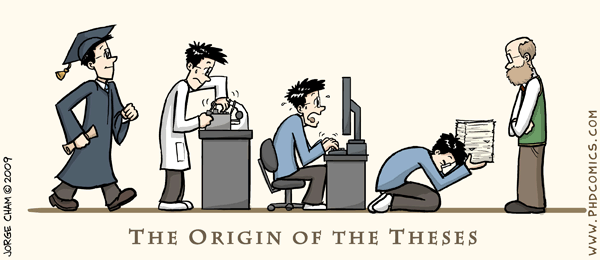Tendo lançado recentemente Sonhos de Lobo, Paulo Rodrigues Ferreira, co-editor da Enfermaria 6, é hoje um homem mais confiante. Poder-se-ia até dizer mais maduro. Encontrei-o numa tasca que tresandava a refogado a ler uma biografia de Napoleão Bonaparte. “Gostaria de ter sido este tipo. Até nascemos no mesmo dia”, confessou com um encolher de ombros que revelava resignação por já não ir a tempo de conquistar a Rússia. Acendi uma cigarrilha, ofereci uma ao autor, que logo recusou dizendo que não era capaz de fumar uma sem fumar duas. O entrevistado é daquelas pessoas que contam piadas sem esboçar um sorriso. Mostra-se sério sem que, no entanto, essa seriedade indicie qualquer tipo de arrogância. Assemelha-se a uma rocha. O mar bate e não se move. Há gente assim. Pergunto-me se terá esta seriedade em todos os aspectos da vida.
Mal vi o seu livro, fiquei muito curiosa. Adoro gente nascida em Agosto. Leão é dos meus signos preferidos. Muito obrigada por ter arranjado tempo para responder a estas questões. Os seus textos têm muitas vezes um tom de crónica. São textos autobiográficos? Considera-se um escritor confessional?
Vinha no autocarro a ler uma entrevista de George Steiner em que este cita uma frase de Dostoiévski. A frase era mais ou menos esta: somos livres por podermos dizer não à realidade. Os meus textos têm muito de autobiográfico mas ao mesmo tempo são a negação completa dessa autobiografia. Em The Facts, Philip Roth diz que toda a ficção começa nos factos mas não termina nos factos. Quem conhecer certos acontecimentos da minha infância ou adolescência, reconhecerá muito daquilo que se encontra em Sonhos de Lobo. Mas pensará: isto não é a verdade, as coisas não aconteceram daquela maneira. Os factos são incontornáveis, não podem ser apagados, mas a maneira como decido pegar neles pode transformá-los em algo completamente fantasioso. Sou livre por poder dizer não à realidade, ou melhor, sou livre por poder rescrever uma realidade que foi atroz, modificar uma realidade cruel ao ponto de tornar cómica uma situação que me pode ter trazido um grande sofrimento. Os textos de Sonhos de Lobo são contos da mesma maneira que textos de vinte palavras de Lydia Davis são contos, mas também poderiam ser crónicas ou cartas ou páginas de um diário, mesmo quando se escreve na terceira pessoa e se inventa uma personagem que trabalha na terra e mata os vizinhos. Um dos meus livros preferidos é Cartas a Lucílio, de Séneca. Sempre me pareceu que aquilo era mais do que um conjunto de cartas. Trata-se de uma obra filosófica, de um grande romance sobre nada, sem acontecimentos, sem personagens, só com ensinamentos sobre a vida. Se confessional for algo parecido com aquilo que Séneca fazia, então sou.
Googlei o seu nome e descobri que este é o seu terceiro livro. Vê alguma relação entre este livro e os anteriores?
Há uma clara relação entre os três livros: olho para eles e não me vejo a minha imagem. Acabamos os livros e eles desaparecem da nossa vida. Até o estilo com que foram escritos se esfuma. Um foi escrito aos dezoito, outro aos vinte e outro aos vinte e nove. Deve notar-se alguma evolução, tanto em termos de temáticas como de escrita. Quando escrevi os primeiros dois livros, era obcecado pela ideia de suicídio. Tinha até um certo prazer em imaginar situações em que pessoas se matavam. Agora, mesmo continuando com essa atracção pelo suicídio, não tenho tanta necessidade de estar sempre a escrever sobre o assunto. Envergonha-me pensar que publiquei livros numa altura em que nem sabia escrever. Ao mesmo tempo, há algo de fantástico nisto: tentando distanciar-me dos três livros, vejo o esforço de alguém que quer escrever cada vez melhor, o esforço de alguém que é completamente viciado na leitura, que não consegue estar sem ler, que só consegue ler. O caminho de quem lê muito é o da escrita. E a certa altura comecei a escrever. Só não me orgulho de não ter começado a escrever obras-primas com dezoito anos.
Do que li do livro, dois temas recorrentes parecem ser o ginásio e a literatura. Estas actividades estão relacionadas para si? Lê quando vai ao ginásio? Pensa no acto de escrever como forma de halterofilismo da mente?
A minha experiência de ginásio é muito curta. Estive uns meses num de bairro chamado “Fábrica do Físico” e assisti a situações hilariantes, como ao desabafo de um pai matulão que já não sabia o que mais fazer para que o filhote melhorasse na escola. Dizia, quase a chorar, que até o tinha espancado e nada, só negativas. Mas lia quando ia ao ginásio, especialmente na passadeira. Agora leio a passear os cães e a exercitar-me no jardim. Ler talvez seja uma forma de halterofilismo da mente. Quanto mais lemos, mais nos habilitamos a ler livros cada vez mais difíceis. Não se começa logo com Wittgenstein. É preciso começar com pesos mais fracos. Pode ser que aconteça o mesmo na escrita, mas parece-me que os processos da escrita são menos conscientes. Não consigo racionalizar. Sei que escrevo cada vez melhor mas não sei se isso se deve a escrever há cada vez mais tempo. O José Rodrigues dos Santos escreve mil páginas por ano e não escreve cada vez melhor. É difícil. O Namora também escrevia muito. E a trampa que aquilo é.
Num dos textos do livro, duas personagens fogem para os Açores. Porquê os Açores? Não acha que há melhores sítios para onde fugir?
A questão é: haverá sítio algum para onde fugir? A nossa cabeça vai connosco para todo o lado. Os nossos problemas são os nossos problemas, não são os problemas da terra em que vivemos. Os Açores é uma terra pobre o suficiente para personagens que desejam viver longe do mundo civilizado. Fugir é uma palavra central. Talvez una quase todos os textos do livro. O mundo é tão cruel, dói tanto existir em todo o lado, que talvez a solução seja existir num sítio onde não exista nada. As pessoas não fogem para a Jamaica ou para a Tailândia, não vão participar em orgias para o resto da vida: vão fugir para o nada, são campónias e regressam ao campo. É como se não desse para escapar da depressão. Imaginar a vida como um círculo. Fugir, fugir, até regressarmos ao ponto de origem, ao ponto onde se encontram todos os fantasmas.
Publicou o livro numa editora chamada Enfermaria 6, da qual é também um dos editores. Não acha um nome um bocado triste para uma editora? Não preferia publicar o livro numa editora com um nome mais alegre, como Lua de Papel ou Chiado Editores?
É preciso respeito pelo nome Enfermaria 6. É só o título de um dos melhores contos de Tchekhov. Quanto à Lua de Papel ou à Chiado Editores, respeito muito as pessoas que lá trabalham mas acho horrível que se pague para editar um livro. Guardo mais carinho por quem paga para ter uma mulher ou por aquele pai que paga para ter a sua cria inscrita num clube de futebol. E Lua de Papel? Como contar isso à família? Já não basta passar a vida a dizer mal da família? Contar à família que se publicou numa editora que lembra origami.
Um escritor contemporâneo acusou-o de cultivar o humor negro na sua escrita. Como responderia hoje a essa afirmação?
Primeiro, é preciso esclarecer uma coisa: eu só acho essa pessoa contemporânea. Para ser escritor não basta escrever nem beber vinho nem ser muito famoso no facebook ou ser considerado um guru para meia-dúzia de arrivistas que passaram ao lado de livros fundamentais. A opinião dessa pessoa vale nada. Quanto ao humor negro, isso incomoda-me por considerar que aquilo que faço não é humor nem negro. Dedico-me à escrita. É isto. Vejamos um exemplo: a obra de Samuel Beckett está carregada de humor e de cenas sórdidas. Mas será natural resumirmos o que este génio escreveu ao rótulo “humor negro”? Não. Não faço stand-up. Escrevo. E quando se lê a escrita de alguém é preciso ler com atenção. Não basta pegar em lugares-comuns.
Para além de escritor é também historiador. Pensa escrever um romance histórico?
Esse é o maior insulto que já me dirigiram. Eu não sou de todo historiador. Ando há 12 anos a fugir da história. Quando acabar o doutoramento, livrar-me-ei desse fardo. Sou um Papillon. Prendi-me a algo que só me faz sofrer.
Manteve, ao longo dos anos, vários blogs. Qual o papel do blog no seu processo criativo? Acha que faz sentido escrever literatura em blogs?
Faz sentido escrever. Os blogs funcionam como cadernos. Nem todos os textos têm a mesma qualidade. Muitos são repetitivos. Não tenho blogs para ser lido. Apago-os, às vezes, passado muito pouco tempo. Sou muito desorganizado. Não tenho paciência para guardar os muitos cadernos que compro. A internet é boa para arquivar material que talvez desejemos posteriormente publicar em papel. Nesse sentido, diria que o blog da Enfermaria segue um pouco essa ideia. É para mim uma espécie de arquivo ao qual, ocasionalmente, se vai buscar bom material para publicar. Os blogs não devem ser levados muito a sério mas são muito úteis.
Onde costuma escrever? Escreve em cadernos ou no computador? Com que tipo de caneta? De pé, sentado, deitado, a fazer o pino?
Escrevo em qualquer lado, desde que exista barulho. Se estiver em casa, preciso do ruído da televisão. Gosto de cafés, de restaurantes, de autocarros ou do metro. Gosto de ter muitas pessoas estranhas à minha volta. Sofro de monofobia. Não posso sentir-me sozinho comigo mesmo. Escrevo em cadernos mas depois passo para o computador. Canetas, só pretas e que deslizem bem pelo papel. Canetas rollerbal 0,7 ou 0,8. Gosto de escrever deitado. Gosto de estar sempre deitado. Sou como Oblomov. O ideal seria escrever deitado numa cama plantada no meio de um centro comercial.
Um reputado crítico português em tempos disse dos seus textos que eram como bombinhas que explodiam nas mãos. Revê-se na descrição? O que acha que o crítico queria dizer com isso?
Vejo que fez o trabalho de casa. O crítico estava a ser literal. Cada texto rebentava-lhe nas mãos e trazia-lhe dores. Provavelmente, não acabou de ler o livro e passou um par de dias no hospital com as mãos enroladas em gaze e a levar colírio nos olhos.
Escreve muitas vezes sobre cinema. Esta é uma arte que influencia a sua escrita?
Influencia a minha vida. Não sei se influencia a escrita. Não sei o que influencia a escrita. Nisto sou como aqueles escritores que acham que a mão tem autonomia, que escreve sozinha, independentemente daquilo que a cabeça pensa.
Quais as suas referências cinematográficas?
David Lynch, Clint Eastwood, Kurosawa, Wes Anderson, Paul Thomas Anderson, Kubrick, Scorsese, Soderbergh, Wong Kar-Wai, Steve McQueen.
Gostava de ir comigo ao cinema? Podíamos ir ver as Tartarugas Ninja. Por falar nisso, viu os desenhos animados das Tartaruga Ninja?
Terei de recusar o convite. Sou um fetichista. Reparei que ostenta uma tatuagem no ombro. Custar-me-ia deveras sair com alguém cujo ombro se encontra coberto por um golfinho azul. Para além disso, faltam-lhe os sapatos de salto alto e a saia curta. Nisto sou radical, desculpe. Mas deixe-me que lhe diga que fico feliz por ter feito referência às Tartarugas Ninja. Poucos sabem mas ao longo da minha meninice imaginei que era o Donatello.
O autor ajeitou o blazer, despediu-se aplicando-me um suave beijo na testa e garantiu-me que, não fosse o maldito golfinho que tatuei com dezassete anos, me levaria ao cinema. Fiquei sozinha a fumar uma cigarrilha e a ler um dos contos de Sonhos de Lobo.