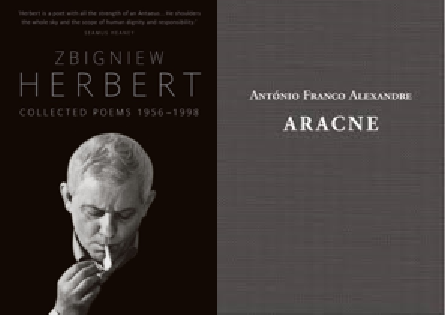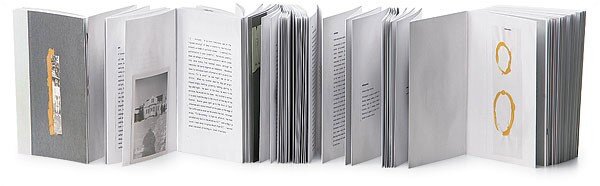Entrevista a José Pedro Moreira
/Obrigado, José, por teres aceitado este desafio. Em vez de me armar em jornalista cultural, vou, antes, optar por uma coisa menos formal, uma espécie de conversa num café. E, claro, fica já toda a gente a saber que esta entrevista é para pagar o café e a nata que o José teve a simpatia de me pagar da última vez que cá esteve, no Porto. (Isto é tudo uma cambada de promiscuidade! dirá alguém que não sabe se sou gordo ou se sou magro). Como é normal, nestas coisas, “entrevistas literárias”, vamos começar com algo muito profundo: o início. Aquela célebre pergunta: “Quando é que começou a escrever poesia?”, quase tão célebre, ou mais célebre, como aquela “Para que serve a poesia?”. Mas antes de chegar aí (vou rebobinar a cassete) pagaste-me um café com nata ou foi só um café? Duas coisas dão 30 perguntas, uma dá 15.
Eu é que te agradeço, Vítor.
Sinceramente não me recordo se foi um café com nata. O que só testemunha em teu favor: apesar da minha avareza, a conversa foi tão interessante que me esqueci de anotar o dano que causaste às minhas finanças.
Quando comecei a escrever poesia? Não é uma pergunta fácil. Desde a adolescência que escrevo caderninhos que misturam versos, notas diarísticas, observações… Mas sempre foram coisas para consumo próprio e a poesia pressupõe a partilha. Há coisa de dez anos escrevi um livro, que depois decidi não publicar. E a vontade de escrever um livro de poesia só regressou em 2017, quando comecei a trabalhar no Gatos no Quintal. Mas pelo meio fui traduzindo alguma poesia, colaborando com outros na edição de poesia, e escrevendo os meus caderninhos.
Brincadeira à parte, falemos da tua infância. Pelo que transparece em Gatos no Quintal, publicado pela Enfermaria 6, pareces ter tido uma infância muito feliz. Tendo tu a mesma idade que eu, foi engraçado encontrar no teu livro referências e situações que coincidem com a minha infância. Podes falar um pouco dela?
Foi uma infância normal. Cresci no Feijó, na Margem Sul, próximo de Almada. Vivia numa vivenda azul: os meus avós maternos ocupavam o apartamento do andar de cima, e eu vivia com os meus pais no apartamento do rés-do-chão. Havia um pequeno quintal nas traseiras, onde a minha avó plantava couves e criava galinhas. Era um miúdo tímido e introvertido. Gostava de brincar e jogar à bola com os outros miúdos da rua, jogar computador, ler banda desenhada, desenhar. Como filho único passava bastante tempo sozinho, mas cedo aprendi a ocupar as horas de solidão.
Em tempos, numa entrevista, creio que deste ano, um poeta “consagrado” dizia que as novas gerações de poetas não têm humor e que aos 20 anos já são todos muito sérios. Não deixou de ter alguma razão, mas quando li a entrevista, constatei de imediato que o poeta “consagrado” não tinha lido o teu primeiro livro: Gatos no Quintal (2018). Não se pode conhecer tudo, sobretudo “uns tipos novos que escrevem coisas”, isso toda a gente já sabe. E começo por aqui para te dizer que tu és o poeta, da minha geração, com mais sentido de humor, um humor muito bem feito, inteligente, um sarcasmo refinado. Sei que é difícil explicar isso, mas de onde vem esse teu humor? Sabes explicar? Será que grande parte do teu humor vem diretamente de Catulo, que traduziste com André Simões para a Cotovia?
Muito obrigado pelo elogio. Os leitores gostam sempre de quando o entrevistado e o entrevistador começam a dar palmadinhas nas costas um do outro. Por outro lado, na Enfermaria não corremos o risco de sermos importunados por leitores. E é normal ser-se mais sisudo aos vinte anos. Queremos muito ser levados a sério. Depois, com alguma sorte, isso passa.
Como sabes, sou um tipo introvertido, sinto-me sempre desconfortável em ocasiões sociais, ou quando tenho de interagir com grupos de mais de uma pessoa. Acho que o humor começou como um mecanismo de defesa, uma maneira de disfarçar a timidez enquanto mantenho uma distância segura. À medida que envelheço e vou ficando menos idiota tento que seja algo mais generoso, uma estratégia para coabitar no mundo: é mais fácil criar laços com outros quando não temos de disfarçar as nossas limitações e somos capazes de nos rirmos de nós próprios. E uma gargalhada é também uma forma de partilha ou até de generosidade – por exemplo, quando alguém se ri de uma piada nossa para nos deixar mais confortáveis, ainda que não tenha piada nenhuma. Mas desconfio que estou a divagar um pouco.
O humor na poesia portuguesa recente não é uma coisa só minha. De repente vem-me à cabeça os livros do Miguel Manso e da Golgona Anghel.
A tradução de Catulo começou como um escape. Eu tinha passado os dois anos anteriores a estudar e traduzir tragédia grega e estava a trabalhar num projecto que não me trazia grande alegria, e o André [Simões] estava a meio de um doutoramento penoso. Sentíamos ambos a necessidade de fazer algo diferente, e há anos que falávamos de traduzir Catulo. Divertimo-nos bastante a fazê-lo. A Tatiana tirou-nos uma fotografia num dos bares da Faculdade de Letras em que estamos ambos com um ar muito sério a olhar para o meu computador. Tínhamos estado a debater a correcta tradução de mentula. “Piça, pila?” “Não”, diz o André, “é mais obsceno do que isso.” “Caralho, então.” “Sim, caralho é a solução filologicamente mais correcta.” O que terão pensado as pessoas à nossa volta? E nos poemas finais do livro, Catulo ataca um apoiante de César, Mamurra, trocando-lhe o nome para Mentula (não é o trocadilho mais feliz ou subtil). Mas Caralho como nome próprio já não tem tanta piada. Sob a influência do Sr. Cogito de Zbigniew Herbert (um poeta que venero), lembrei-me: “E se ficasse o Sr. Caralho?” “Ah, isso é mais engraçado!”
O primeiro poema que ouvi (pois que o leste na Flâneur) de Gatos no Quintal foi o “Depois de Kaprow”, e, se não me falha a memória, foi o riso total na sala. É, para mim, a par de “Aquiles e a Tartaruga” e “Aula de Filosofia”, o poema mais forte do livro. Nele falas de coisas muito sérias, do happening do Kaprow, de Damien Hirst, da Oresteia, do Rambo, e, no entanto, com um humor muito bem feito, e o mais engraçado, no fim o poema torna-se auto-irónico: “isto é poesia?”. Podes falar um pouco desse teu poema? És um apreciador de selfie stick?
Alguns dos meus poemas agregam matéria diversa que anda solta na minha cabeça – ideias, frases, factos – em torno de um núcleo. Foi isso que aconteceu com o “Depois de Kaprow”. Ideias sobre definição de arte, limites éticos da arte, paródia a uma conversa entre amigos sobre uma viagem à Grécia, noções sobre como nos relacionamos com a arte, e como a invasão dos social media na nossa intimidade condiciona a relação com a arte, foram encontrado o seu lugar em torno de um núcleo central: a narrativa de uma reacção estética de um amigo a uma instalação. Posso contar a história aqui: em 2010, creio, fui a Madrid com a Tatiana e dois amigos e passámos quatro ou cinco dias a ver museus. No Museu Reina Sofía, a necessitar de descanso do peso de grande arte, decidimos fazer uma pausa para fumar. Descemos até ao pátio central de onde um dos meus amigos (o Manel), olhando para o interior, viu uma pilha de pneus no chão, e comentou “é uma vergonha um museu destes ter as arrecadações à mostra”. “Não me parece que sejam as arrecadações, Manel”, respondeu o André (o meu outro amigo), “eu acho que é uma instalação”. E assim era, o que deixou o Manel mais exaltado do que o que qualquer um de nós ousara esperar. Com o ímpeto desesperado de um homem que acaba de sofrer um desgosto amoroso, o Manel, normalmente uma figura serena, começa a interpelar quem caminhava ali ao pé, apontando para a instalação e perguntando “Está en crer que esto es arte? Neumáticos! Son neumáticos!”, a tal ponto exaltado em que uma segurança se aproxima, pedindo-lhe que se acalmasse. Até que olhou para nós, com lágrimas na cara de tanto rir, e também a senhora se começou a rir.
Eu não tenho nada contra selfie sticks. A não ser achar que quem fosse apanhado com um devia levar com uma multa pesada, depois de ser espancado com ele. A cultura da selfie faz com que deixemos de estar disponíveis para a arte, nós, a nossa gloriosa vidinha, passa a estar no centro de tudo. E lá estamos nós: a nossa cara sorridente a comer um croquete, nós a beijarmos a mulher amada enquanto olhamos para a câmara, nós ao lado da Mona Lisa com um sorriso aparvalhado. A arte passa a ser um adereço sem outro valor que não aquele que empresta à nossa historiazinha, mesquinha e enfadonha, que insistimos em contar. E o mundo fica mais pobre e a nossa existência perde significado. (Sinto-me a envelhecer enquanto escrevo estas linhas.)
Ainda sobre “Gatos de Quintal”, surpreendeu-me a tua “Aula de Filosofia”. Para mim, que nasci nos anos 80, ler aquilo foi não só divertido, como me relembrou de uma realidade de que já me tinha esquecido: a tortura que foi, para mim e para os meus colegas, as primeiras leituras de Kant; ouvir a palavra “imperativo” vezes e vezes seguidas atormenta qualquer miúdo. Esse poema lembrou-me um poema muito bonito de João Miguel Fernandes Jorge – “Durante um exercício de filosofia”, mas o teu, ao contrário de João Miguel, dá a versão do aluno numa aula de filosofia nos anos 90. E falo disso porque sinto que recuperas memórias que são de muitos de nós, e reatualizas as pequenas histórias de um mundo sem a parafernália tecnológica em que estamos enfiados. Ao dizer isso, pareço que estou a falar de nostalgia de um tempo que não existe, em parte sim, mas isso não se encontra nos teus poemas, porque neles há sempre um humor, mas não deixa de ser um humor agridoce. Faz sentido o que estou a dizer?
Sim, acho que sim. Eu prefiro não condicionar a leitura do poema. Mas posso partilhar o substracto autobiográfico que o informa: tive a sorte de ter uma excelente professora de Filosofia no 12º ano, a Fernanda Melo, de quem hoje ainda sou amigo. No primeiro trimestre lemos o Górgias de Platão, no segundo a Fundamentação da Metafísica de Costumes, de Kant, e no terceiro O Nascimento da Tragédia, de Nietzsche. Tudo grandes livros, que influenciaram a minha decisão de estudar Clássicas. Mas quando somos adolescentes, temos outras preocupações que imperativos categóricos e preposições analíticas. Foi bastante difícil de entrar em Kant, mas quando consegui furar através do estilo professoral e enfadonho, descobri um mundo conceptual idealista de uma beleza tão frágil que me comoveu. Há nesse poema também algumas referências a uma peça de Thomas Bernhard, Kant, em que o filósofo faz um cruzeiro até Nova Iorque na companhia da mulher para tratar das cataratas. E tem um papagaio de estimação que papagueia Imperativo! Imperativo!. Assisti a uma representação da peça há uns anos, durante o Festival de Teatro de Almada. Creio que na companhia da Fernanda.
Isso está a ficar sério demais! Quando bebemos “uma cerveja na Grécia” (Gatos no Quintal, (2018))? Há uma perversão ou atualização da “temporada” do Rimbaud? Ou não andavas a pensar nisso? Nessa secção do livro falas de uma Grécia contemporânea lançada um pouco ao deus-dará e ao inferno. Sei que já foste algumas vezes à Grécia; o que mais gostas na Grécia? Não tens um chá para me recomendar em vez de uma cerveja? Eu sempre detestei cerveja. O que me recomendas?
Sim, a “cerveja” é uma referência à versão de Cesariny de Rimbaud, um livro muito importante para mim, quando comecei a descobrir a poesia. Sempre me irritou a imagem romântica de uma Grécia do espírito, idealizada, a-histórica, depurada de tensões e violência, onde os próprios actos de violência são domesticados enquanto abstracções. Uma espécie de resort cultural onde se vai a banhos para relaxar o espírito das atribulações da vida contemporânea. Neste não-lugar a bebida por excelência é o vinho (misturado). Mandar vir uma cerveja e acender um cigarro na zona de não fumadores (há uma alusão a tabaco na epígrafe, tirada do meu livro introdutório preferido à cultura grega antiga, de HDF Kitto) deste resort do espírito funcionam como uma declaração de intenções.
Eu não sou muito de chás. Nem de cerveja, para ser sincero. Prefiro vinho ou cidra.
Do que mais gosto na Grécia? Gosto do sol, gosto do mar, gosto da história, gosto da comida, gosto das pessoas. É tudo isso e algo mais. Não consigo explicar porque me sinto tão bem naquele país. Da primeira vez que fui, apanhei o ferry em Atenas para Paros. E não te consigo descrever o que senti quando o barco passou o cabo Súnio, ou quando mais tarde, vimos Serifo à nossa esquerda enquanto o sol se punha. Foi a mesma plenitude que senti quando subimos a encosta que leva às ruínas do templo de Apolo em Naxos, e olhei para trás e vi o porto e a linha da costa, ou quando descemos o monte Cinto em Delos. Desculpa, sei o quão irritante são estas exaltações. Daqui a pouco estou a mostrar álbuns de fotografias.
A Barbara Stronger (1983-2019), antes de se suicidar, gostava muito da primeira parte de Gatos no Quintal, mas ficou sempre sem saber onde ficava aquele “Rua da igreja”. Onde fica essa rua? E que é feito dessas personagens todas: o Benjamim, a Maria, o João, o Filipe, o Ricardo, o Francisco… Esses nomes parecem ser toda uma geração enganada, não? O que mais gosto é do Francisco, aquilo sou eu e minha mãe; mas também te vislumbro naquela pele. Por falar em gatos, o meu Kafka está mais gordo e pergunta por aquilo que já ia perguntar: para quando uma reedição de Gatos no Quintal?
Os meus pêsames. Nunca cheguei a conhecer a Barbara, mas sei que vocês eram próximos. E agrada-me saber que ela gostava da “Rua da igreja”. A resposta correcta à tua pergunta é que a “Rua da igreja” não existe, existe apenas no espaço poético, seja lá o que isso for. A resposta verdadeira é que fica no Feijó. A igreja entretanto foi destruída, e outra construída no seu lugar. Algumas das pessoas morreram, outras vão indo – o Ricardo casou-se este ano, o Sr. João M. está velhote mas lá anda –, outras sou eu. O teu Kafka é um belo gato, bem como a Ariel. Manda-lhes um abraço meu. Apesar do interesse dele, não me parece que seja partilhado por gente suficiente que justifique uma reedição do livro.
Falemos agora da tua última “cassete” – Porque canta um pequeno coração. Nessa cassete, o extra final é o coroar do livro, a cereja em cima do bolo. Há nele um lado teatral, retirado (quase) das comédias romanas (sobretudo romanas, não sei porque penso nisso). Mas antes dele queria que falasses um pouco sobre aquele que é o mais belo poema do livro, a meu ver (claro) – “O santuário de Atena Kokkinê em Delos”, se for possível. Aquele “pequeno ouriço-cacheiro” fez-me pensar em Derrida e na própria natureza da poesia, de que ela deve ser um ouriço; mas o que mais fiquei curioso foi em ver aquela fotografia. Tens de partilhar a foto.
Desculpa, este é um poema demasiado pessoal, preferia não falar sobre ele.
Além desses dois poemas já referidos, tens em “Porque canta um pequeno coração” dois extraordinários poemas: “Notas sobre o Prosciutto di Parma” e “Toda a verdade!!!”. Sobre uma aparente facilidade, brincadeira, falas de assuntos muito sérios, coisas que a um leitor desatento passam despercebidas. Não quero que expliques os poemas, mas o que te levou a escrevê-los? No primeiro, muito sinteticamente, temos um poema que fala sobre a arte de escrever poesia e no outro sobre a linha tênue entre verdade e mentira, e também sobre o alto risco de manipulação das massas. Digo isso para constatar que, por detrás do teu humor, há questões sociais muito atuais, falam de mentira, de anestesia, de sofrimento… Que podes dizer sobre isso?
Muito obrigado pelas tuas palavras, Vítor (mais palmadinhas nas costas). Ambos os poemas são exemplos desta minha maneira de criar, por meio de associações e aglomeração de elementos diversos.
“Notas sobre o Prosciutto di Parma” começou quando li um artigo no The Guardian sobre como carnes processadas causam cancro.[1] Há ampla ciência que o comprova, sabemos as causas, sabemos como as evitar, mas nada se faz por pressão dos grandes interesses económicos. É um risco que os mais abastados não correm: podem comprar presuntos produzidos segundo métodos artesanais, como o cobiçado prosciutto di Parma, que não usam nitratos nem nitritos durante o processo de cura. Isto fez-me pensar em desigualdade social, em como os governos nos falham, em questões de bem-estar animal, e vegetarianismo, e também em Horácio, na sua Ars Poetica[2], em como os enchidos poéticos são produzidos.
Quando acabei o Gatos no Quintal pensava em escrever uma plaquete, com uns dez poemas, sobre coisas de arte popular de que gosto: filmes, novelas gráficas, videojogos, etc. A meio apercebi-me de que os poemas eram parte de algo mais vasto e incorporei-os no Porque canta... Um desses poemas que tencionava escrever era sobre Preacher, uma das minhas novelas gráficas preferidas, escrita por Garth Ennis e desenhada por Steve Dillon. Tinha algumas ideias: seria uma longa roadtrip pelos Estados Unidos, haveria um encontro com deus, seria uma sátira política. Mas nunca conseguia apanhar o ângulo certo, e os pormenores permaneciam vagos, até ler um artigo na The New Yorker sobre terraplanistas,[3] gente que acredita piamente que a terra é plana e que há uma vasta conspiração para nos manter nas trevas da ignorância. Mas é claro que eles vêem o engano e sabem a verdade.
Sendo tu um leitor de banda desenhada (eu tentei, José, mas não consegui!) e consumidor de cultura pop, como todos nós, que autores de banda desenhada leste, lês? E já agora, que séries televisivas andas a ver, para recomendar ao Daniel. Eu sei, eu sei… pouco tem a ver com o teu livro – “Porque canta um pequeno coração” –, é tudo para fugir ao meu papel de jornalista cultural. Sabes, sempre quis ser jornalista, jornalista e crítico num jornal conceituado, uma espécie de influencer (pago a peso de ouro) da poesia. Sabes, eu até calculo matematicamente quantos gosto coloco na página x e y, não vá pôr um gosto num poeta maldito e ver, assim, o púlpito da crítica fechar-se à minha poesia, e depois onde apareço? Ai, são preocupações dessas que me tiram o sono! Uma coisa mais importante, que agora me lembrei, gostas mais de salgados ou de fritos?
Claro que gostas de banda desenhada, Vítor, tu é que ainda não sabes. É uma arte visual, algo a que és sensível, que exige ao escritor uma enorme economia verbal, como a poesia. Alguns dos meus autores preferidos e os livros deles de que mais gosto: Alan Moore (que ocupa o centro do cânone de banda desenhada; Watchmen, From Hell), Garth Ennis (Preacher, The Boys, Punisher MAX), Frank Miller (Sin City, Batman: The Dark Knight Returns, Batman: Year One), Art Spiegelman (Maus), Mike Mignola (Hellboy), Neil Gaiman (The Sandman), Jeff Lemire (Essex County, Sweet Tooth), Ed Brubacker (Criminal, Gotham Central, Kill or be Killed), Brian Michael Bendis (Ultimate Spider-Man, Alias: aka Jessica Jones), Warren Ellis (Transmetropolitan), Jonathan Hickman (East of West), Robert Kirkman (The Walking Dead), … Mas o acumular de nomes é contraprodutivo. A pergunta que me deverias ter feito era Que livros me recomendas para começar a ler banda desenhada? E eu responderia: experimenta Maus (Art Spiegelman), o primeiro volume de The Sandman (Neil Gaiman), e Watchmen (Alan Moore). E depois diz-me se gostas de banda desenhada ou não.
séries que vi recentemente e que recomendo: Succession, BoJack Horseman, W1A (ok, já tem um par de anos mas é das comédias mais engraçadas que vi).
Fritos ou salgados? Fritos e salgados! (Primeiro frito, depois salgado.)
Outro dia vi que eras best-seller de poesia, como te sentes? Passaste de “menino censurado” (temos isso em comum) para um êxito estrondoso na Não Edições? Já pediste aumento? Sei, isso da poesia não dá dinheiro, nunca deu, ainda bem, por um lado. Outro dia lembrei-me de um poema do Jorge de Sena, diz algo como, a ideia é esta: os poetas andam a lamber a chagas uns dos outros. O que não deixa de ter piada. O que achas dessas comadres sempre às turras e piadas umas com as outras? Sempre a acharem-se melhores que os outros e sempre a descobrirem a pólvora (aquela que já foi descoberta há séculos). Mais vale ir jogar Playstation, ao Pro Evolution Soccer! Algum comentário mais?
Nunca me senti censurado. E chamar a um livro de poesia best-seller é meio caminho andado para o matar. Mas fico contente que o livro tenha justificado uma segunda edição. Sei o trabalho que o João Concha, o editor, investiu nele, e estou-lhe imensamente grato.
Isso dos poetas andarem sempre às turras não é mais topos do que outra coisa? Não é essa a minha experiência. Dada a natureza não lucrativa da poesia em Portugal, a publicação de livros de poesia depende de laços de solidariedade e voluntarismo. Pequenos grupos, que investem tempo e algum dinheiro para que livros de poesia possam acontecer. Tome-se o exemplo do Porque canta um pequeno coração: o manuscrito beneficiou da leitura atenta de poetas amigos que admiro (a Tatiana, o Sebastião Belford Cerqueira, o João Bosco da Silva, tu, o Luís Amorim de Sousa), beneficiou do trabalho de edição do João Concha, dos desenhos do André Ruivo. Convidei a Elisabete Marques, outra poeta que admiro (ide comprar o Animais de sangue frio se ainda não o fizeram, boa gente!) para apresentar o livro e sei que é um pedido cruel, porque preparar uma apresentação leva tempo e a Elisabete é uma pessoa bastante ocupada, no entanto, trinta minutos depois de enviar o convite tinha uma resposta da Elisabete a dizer que claro que apresentava o livro. E fizemos uma leitura juntos no Porto, eu, tu, a Francisca Camelo, e a Mafalda Sofia Gomes, e estavam lá outros poetas amigos (desta vez o Pedro Braga Falcão não contou anedotas em Latim). E se o livro vendeu alguns exemplares foi porque vários amigos o ajudaram a promover, alguns deles poetas. Tu próprio tiveste uma trabalheira a preparar esta entrevista. Tudo isto para dizer que o que eu vejo é uma enorme generosidade e solidariedade das pessoas envolvidas na poesia. Se alguns desses grupos são por vezes mais territoriais, ou se as pessoas se desentendem de vez em quando, pois, isso acontece, mas parece-me algo marginal.
Voltando ao teu último poema do livro – “Filémon e Báucis (a partir de Ovídio)” –, não só reescreves o mito como reforças aquilo que muita gente esquece, às vezes também eu, de que para amar uma pessoa basta muito pouco. É, a par do poema dedicado à Tatiana, o poema de amor mais bonito que li este ano. Agora, quando quiser reescrever aquele mito, vou ter sempre o teu a ecoar na minha cabeça. E digo isso porque vejo na tua poesia temas, preocupações que se aproximam das minhas. Podes falar da escrita deste teu poema?
Bem, esse poema também é dedicado à Tatiana. Este é um dos meus mitos preferidos d’As Metamorfoses, e há anos que penso em escrever este poema, mas nunca saiu. Quando estava a organizar os poemas, percebi que o livro precisava desta coda, e que eu devia deixar de ser preguiçoso e escrevê-lo. A ideia inicial era fazer uma tradução livre mais próxima do texto de Ovídio, mas foi evoluindo para algo diferente. A referência principal foi Tales from Ovid, de Ted Hughes, claro.
Quais os autores, poetas e outros, que leste e que achas que, de algum modo, te influenciou naquilo fazes? E quais são as tuas grandes referencias poéticas, aqueles nomes que nunca te cansas de reler?
Há uma série de autores que venero e releio: Dostoievski, Thomas Bernhard, Beckett, Orwell, Tchékhov, Ésquilo, Tony Judt. Entre os poetas Zbigniew Herbert, António Franco Alexandre, Anne Carson, Celan, Bukowski... É difícil fixar uma lista.
Não te vou perguntar mais sobre poesia. Quem ainda não leu o livro que o leia, eu, Vítor, recomendo. Estás já algum tempo fora de Portugal. Há quantos anos? De que mais tens saudades, além da Alzira e do Augusto?
Vivo em Inglaterra há... vai fazer oito anos em Março. Essa é uma pergunta fácil, do que mais tenho saudades é da minha família e dos meus amigos.
Bom, tendo em conta qua mal cheguei às 15 perguntas, pagaste-me apenas um café. Eu sei, estavas a pensar na minha linha, és um bom amigo. Quando voltares pago-te uma cerveja e … eu fico-me pelo chá. Vemo-nos em breve. Um Abraço.
Prova ao menos uma mince pie. É a melhor coisa de se viver no Reino Unido.
Vítor Teves e José Pedro Moreira. Foto: Tatiana Faia, Outubro de 2019.
Ps- Esta entrevista foi realizada por escrito e enviada por e-mail. Não teve o patrocínio da Bertrand, da Fnac, da SPA, do BES, da CGD, da FCT, da Fundação Calouste Gulbenkian (já Luiz Pacheco, Mário Cesariny e António José Forte se queixavam), GALP, CTT e nem da Nestlé.
[1] Cf. https://www.theguardian.com/news/2018/mar/01/bacon-cancer-processed-meats-nitrates-nitrites-sausages
[2] É lamentável que a Ars Poetica, não tenha sido incluída na mais recente tradução das Epístolas de Horácio, que, de resto, é excelente. Tunga, Pedro!
[3] Cf. https://www.newyorker.com/science/elements/looking-for-life-on-a-flat-earth