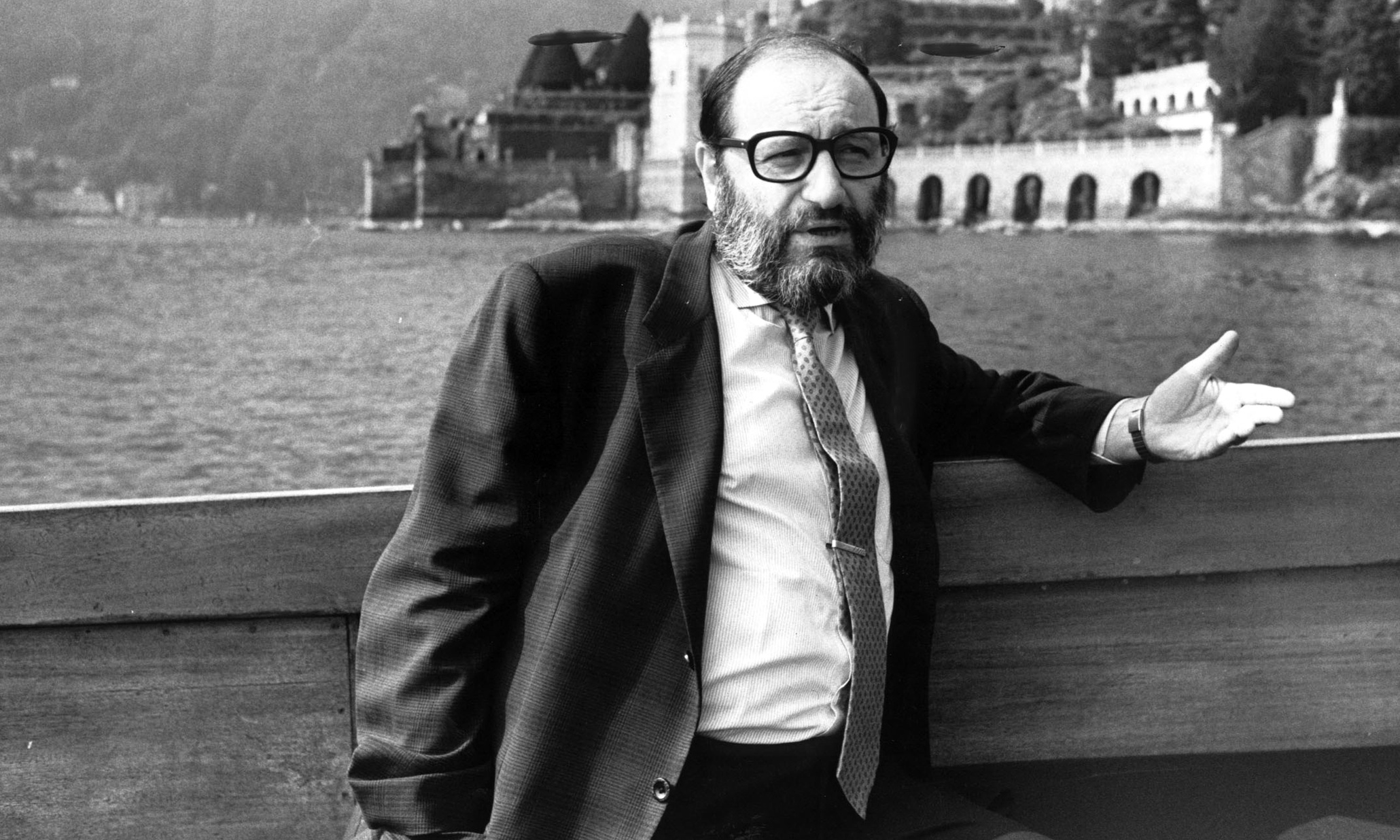As Aventuras do Senhor Lourenço (§6 da imperfeição que redime)
/(cont.)
Lourenço ficou embaraçado, enredado no sem-sentido que costuma atacar quem se põe ao lado da via estritamente instintiva da sexualidade. Lourenço não fez sexo, mas para-sexo e, nalguns momentos, meta-sexo. Também sentia frio, esse que invade lentamente até às entranhas, como nos Descobrimentos. Preparou uma frase, depois outra, e ainda outra. Umas já feitas, outras quase inventadas no momento. Nenhuma servia, sabia-o mesmo antes de as formular ou encontrar. Talvez um grito!? Assustava Manuela e ela dava um pinote, achando-o louco, e nunca mais se falava no assunto. Antigamente, quando se fumava na cama (cliché fundamental no cinemavanguardista), na cama e em todo o lado, até, e por vezes sobretudo, nos hospitais, para desanuviar o medo de poder chocar de frente com a morte, mesmo com a própria morte, punha-se uma pose a la Pierrot le Fou, e toca a andar. Fumava-se um cigarro e, pelo menos em imaginação, corria-se heroicamente para os braços da morte ou da vida plena. Nada disto aconteceria neste caso, Lourenço estava despojado de qualquer esperança, prometido, sabia-o bem, à irrelevância e ao ridículo.
– Giro. Não foi? – Perguntou assertivamente Manuela.
– Sim, fantástico. – Sussurrou Lourenço.
– Sabes, eu gosto de sexo, gosto mesmo. Aliás, acho que todas as mulheres gostam, até as santinhas do sofá azul. – Tratava-se de 4 ou 5 colegas que, sempre sentadas no mesmo sítio (Lourenço julgava até que elas não punham os pés numa sala de aula há décadas), invocavam frequentemente a presença do espírito santo para censurar as conversas mais picantes dos pobres professores, cuja libido residia agora sobretudo na memória.
– Pois, a espécie precisa de sobreviver. – Que raio, a espécie humana já não precisa do coito, Lourenço. Se queres arruinar a possibilidade de voltar sequer a beijar a Manuela, então vai por aí!
Manuela levantou-se, e deu-se uma revelação. Por cima da sua nádega esquerda (mais bela do que as do Renascimento) havia uma reentrância do tamanho de um punho, coberta por uma pele estranha, mistura de zona queimada e suturada, Lourenço nunca tinha vista nada igual. “Era um defeito!” Manuela tinha clara e inequivocamente um defeito, bastante grande, por sinal. Não desequilibrava a sua anatomia e até podia passar despercebido, mas Lourenço concentrou-se nesta tábua de salvação, “Manuela é defeituosa, eu também, mas não como ela”.
– Estás a olhar para a cratera? – Perguntou Manuela.
– Cratera?
– Sim, aí ao fundo das costas?
– Ah, nem tinha reparado, quase não se dá por ele.
– Não digas disparates, claro que se dá por ele e claro que estavas a analisá-lo. Foi um tiro de caçadeira, tinha 10 anos e o meu pai disparou a arma, o seu grande e único amor, sem querer.
– Que chatice.
– Nada disso, é a única marca que tenho quase desde sempre e para sempre, o resto vai e vem, aparece e desaparece, isto fica. É uma tatuagem mais funda e mais definitiva. Por outro lado, assusta os cocós que nos querem parecidas com bonecas insufláveis sem percalços.
Certo, Manuela até podia escrever o poema mais bonito em torno da “cratera”, mas Lourenço permaneceu atento aos “defeitos da boneca insuflável”, e isso redimia-o, num grau tão elevado que é difícil imaginá-lo. O mal dos outros é o nosso bem, daí a tendência para o fracasso atrair o fracasso. Lourenço só podia, pois, aliar-se a personagens menores, e agora, pelo menos para ele, Manuela entrava nessa menoridade. Bem diferente é o que se passa a nível atómico, tudo é exacto. Podemos ver o mesmo princípio do “mais é mais” na natureza, sem a intervenção humana, o mundo natural vive exclusivamente na perfeição,
[talvez por isso David Henri Thoreau tenha dito que um livro deve ser tão natural e inexplicavelmente belo e perfeito como uma flor silvestre. Mas como fazer agora isso se a maioria dos leitores não sabe o que é uma “flor silvestre”?]
Manuela começou a vestir-se, primeiro as cuecas, um pé ligeiramente no ar para enfiar uma parte, depois o outro, no final puxou de uma só vez o conjunto e deu um ligeiro salto, e tudo ficou admiravelmente no sítio, as cuecas azuis terminaram na posição exacta, dando uma beleza sufocante ao seu rabo. Aquele salto, feito de forma tão natural, tinha uma tal profundidade estética que revoltou Lourenço por estar garantido à morte. E depois, a “cratera”, logo acima, a denunciar a outra realidade da Manuela, a imperfeição que a tornava humana e viabilizava um próximo encontro.
Manuela despediu-se, quase como o fazia na escola. Lourenço ficou só, com o mundo inteiro a vigiá-lo, sobretudo as televisões tablóides, esperando que saltasse da janela. Mal sabia o mundo, e os jornalistas televisivos de meia tijela, que Lourenço tinha encontrado a salvação na “cratera”.