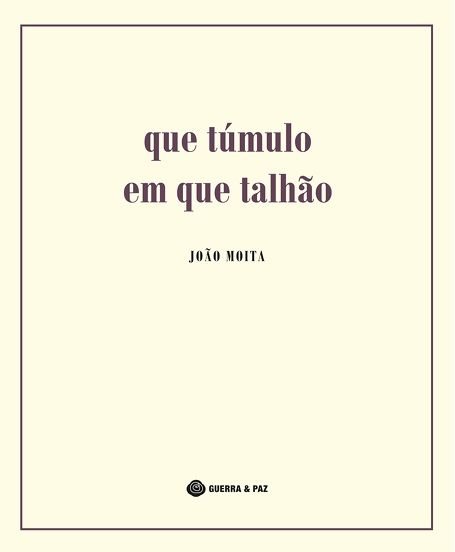A poesia repete-se e reinventa-se permanentemente, é, como as outras artes, reacionária e progressista, tem um pé no passado e outro no futuro. Se, por um lado, pelo menos desde o modernismo, desapareceram quase todas as restrições formais; por outro, permanecem campos específicos, edições e prémios, por exemplo, que não a deixam confundir com o resto da ficção. Há, até, a crença popular (pouco justificada) do talento poético da cultura portuguesa, provando o reconhecimento de um ethos que a diferencia no mundo das artes da palavra.
A obra de João Moita (ele recusa tê-la, cada livro, diz, é um começo, mas a bandana de Que Túmulo em que Talhão seleciona Fome — Enfermaria 6, 2015/17 — e Uma Pedra sobre a Boca — Guerra e Paz, 2019; juntando-se a isso um trabalho profundo de tradução poética: Antonio Gamoneda, Saint-John Perse, Arthur Rimbaud, Pierre Louÿs, Paul Verlaine, Walt Whitman) tem a marca da inclemência, há sempre uma tensão que atravessa o que é dito e mostrado. Um sopro frio sacode o espúrio e o sagrado (o que se considera como tal), como nos cínicos gregos, que para serem autênticos tanto se lhes dava como se lhes deu. Neste sentido, talvez a poesia de João Moita seja dedicada a Deus, impotente ou tolerante perante o mal, um evangelho do negativo. Por isso, capturando sem falhas o concreto e o sensorial, Que Túmulo em que Talhão foi composto com símbolos incomuns: foice, bafio, ranço, peçonha, salobra, asfixia, vertigem oblíqua, gangrena, podridão, emboscada, putrefação, morte, cadáver, chiqueiro, epidemia, matança, veneno, negrume, lamaçal, vísceras, visco, pestilento, tumor, bafo, entulho, escuridão, náusea, indigesta, fome, mórbido. A solidão pobre, o tédio, as iras domésticas, uma paz que sufoca… Talvez para melhor confinar a linguagem à função de descrição física e de localização. Ou achar que são as melhores palavras para ir para lá da linguagem.
Não sei se João Moita quis exprimir ou expulsar sentidos que o compõem ou se deixou que algo emergisse através (sim, atravessando-o) dele. Die Sprache spricht («A linguagem fala», Martin Heidegger, que admirava Hölderlin e achava que o Ser habita na poesia). Respeitando a sua vontade de desaparecer por trás dos livros que vai escrevendo, avanço a hipótese de uma linguagem da Lezíria assomar na ponta da sua caneta, ditando o fulgor amoral, patético, repugnante, viril, cruel… da vida/morte. Um livro que podia, assim, não ser assinado, mesmo reconhecendo que a linguagem da lezíria não escolheu o João por acaso. Creio saber que ele não gosta nem da embriaguez dionisíaca nem do humanismo apolíneo, tomados nesta dicotomia simplista, é também avesso, quando se concentra no individual, tanto à autocomiseração quanto à autoglorificação. Daí compreender-se que tenha procurado «representar a natureza em toda a sua esplendorosa indiferença e amoralidade».
Quis também «Eximir o sujeito poético ao poema». Sim, e não. Por um lado, contra ele, é indesmentível que estabelece um discurso direto com o leitor no primeiro poema, um prelúdio disparado imperativamente. Quer introduzir-nos no desencanto, para enquadrar a leitura do livro, e abrir horizontes de expetativas existenciais. E o sujeito poético emerge noutros lugares: pp. 64 («será a minha vida»), 67 («augúrio / que não decifro»), 76 («onde me detenho», «minha vida»), nas pp. 79 e 82 ainda mais claro, repete-se um «eu» e aparece um «ouço». Como o futuro foi anulado, culmina num «eu» a imolar-se na última estrofe do livro:
E eu,
couraçado pela solidão,
busco companhia
no milheiral
benzido
pelas chamas. (p. 82)
Por outro lado, a favor do que disse, é surpreendente encontrar tão poucas vezes o sujeito poético, e nada de metapoesia (ultimamente tornou-se um vício, sobretudo nos jovens artífices). Mais, o humano quase se ausenta de Que Túmulo em que Talhão, «crianças da vila», «homem dobrado» e pouco mais. E mesmo quando aparece uma «mãe», é de gatos que se trata. Este desaparecimento desvia o protagonismo para a lezíria, sentimos que a desolação do ecossistema precisa da escassez humana, talvez exposta em contraluz nos mistérios da ausência-presença. Sem nós, a Lezíria viveria numa amoralidade exultante. É por isso que a luz direta que João Moita diz lançar sobre a natureza talvez não morra aí, ela acerta na Lezíria, certamente, mas reflete-se em algo para lá dela, e nesse além está, acredito, o humano, mas também o divino. Terei sucumbido ao magnetismo da ausência?
Expressionismo niilista. O único consolo — numa remissão tão frugal que é preciso ter a força de um estoico experiente — está, pontualmente, na indiferença. Mesmo quando não compõe uma imagem de fealdade e desarmonia, acaba por escrever: «acocoradas sob as telhas / as sombras preparam / uma emboscada». Quem se lembraria de mostrar num poema que
O frio eriça
as vísceras dos frangos,
enxameadas de moscas
para a postura
dos ovos. (pp. 31-32)
No mesmo poema — do capítulo «A Vila», o outro é «Os Campos» — retoma episódios de elementos naturais que invadem a polis decadente, percorrida pelo destino do desaparecimento: «o sonar de um morcego / varre a ignomínia do quintal». Neste caso, o metafórico ganhou a relevância exata de um lirismo negro, como sucede na estrofe que se segue:
O sol lança chispas
sobre o caixão.
Jazem azuis e bolorentos
os limões,
como as chagas
imputrescíveis
da devoção. (p. 33)
Há nisto um ver as coisas a partir de um ângulo pós-convencional, mas há também a vontade de inverter a pastoral, e desde logo uma das figuras mais emolduradas, a aurora: «Amanhece na campina / como o caruncho alastra / no sudário» (p. 39) Uma lírica perfurante para chegar à vida nua campestre, ou um neorrealismo desumanizado:
Coalha de lêndeas
o pêlo das grandes
ratazanas,
mosquitos sedentos
mugem os úberes
das vacas da charneca,
rodopiam,
em sua grande
transumância,
as pedras frias
do entardecer. (pp. 50-51)
A aurora, o belo crepúsculo dos românticos, a terra, a luz, o céu…, nada dito tem suficiente força redentora para fazer frente ao poeta, ou aos poemas. Nem mesmo a metafísica resiste ao teste de esforço hermenêutico:
Cai varado
um deus
como um limão
na aridez
da charneca. (p. 59)
É a segunda vez que limões e divino se cruzam, não o limão jovial dos cocktails, mas o da acidez que também apodrece, e antes cai desamparado. É por isso que me senti assombrado pela ideia da decomposição (termo que o João usa), do orgânico, seguramente, mas também a decomposição de uma certa forma de escrever poesia. É assim que ousa criar esta surpreendente analogia: «o negrume de um céu / de amoras pisadas.» (p. 69) Uma traição ao hábito, a que alguns chamam inventividade. Mas pode também ser, deixem-me arriscar, uma extrema fidelidade aos pormenores, envolvidos, dia e noite, num bafo pestilento.