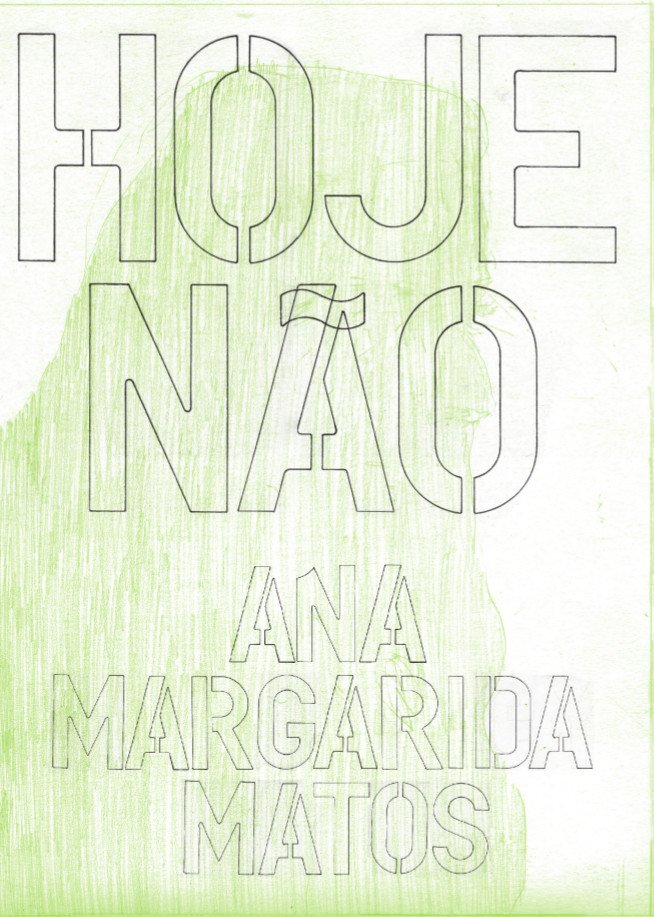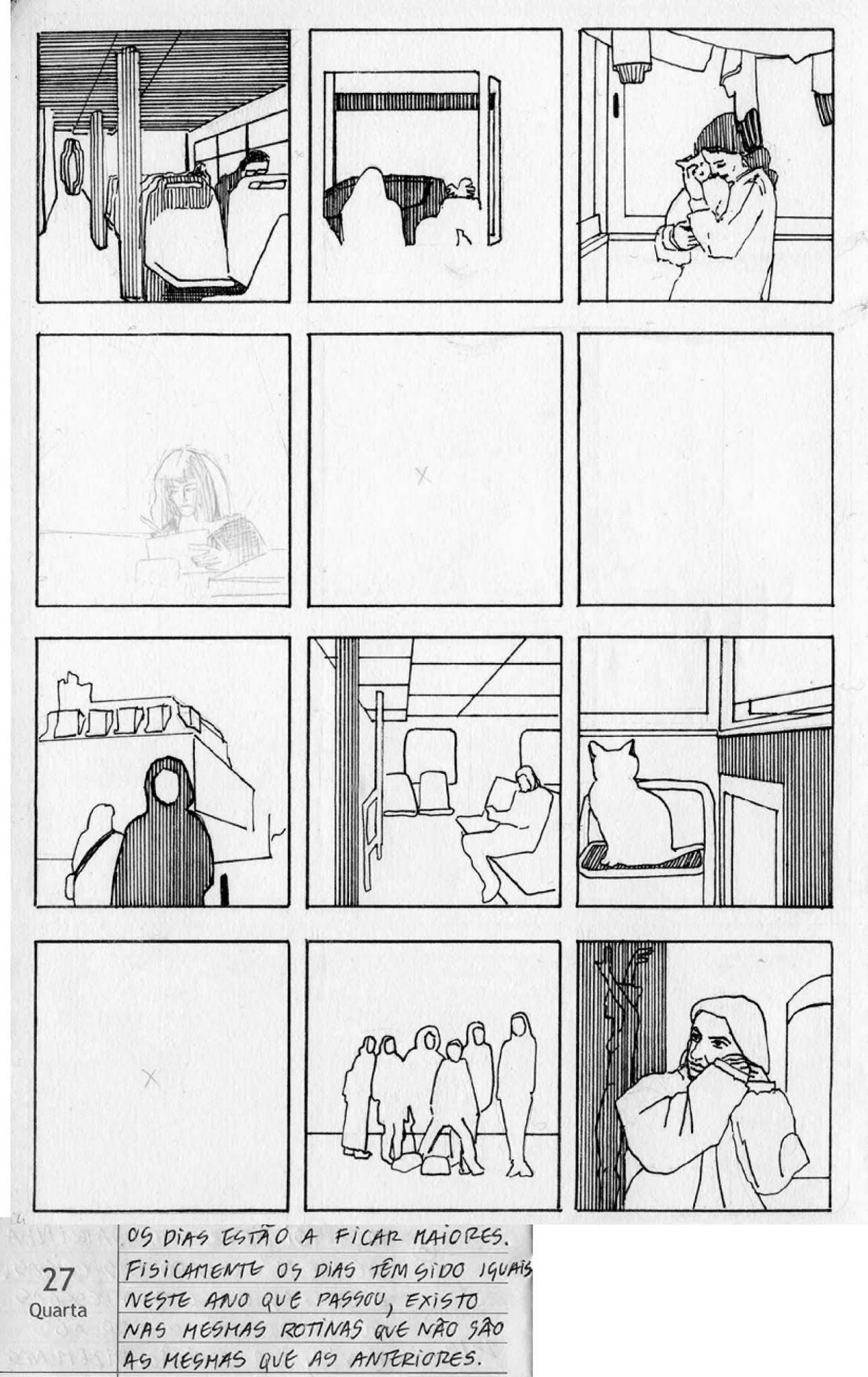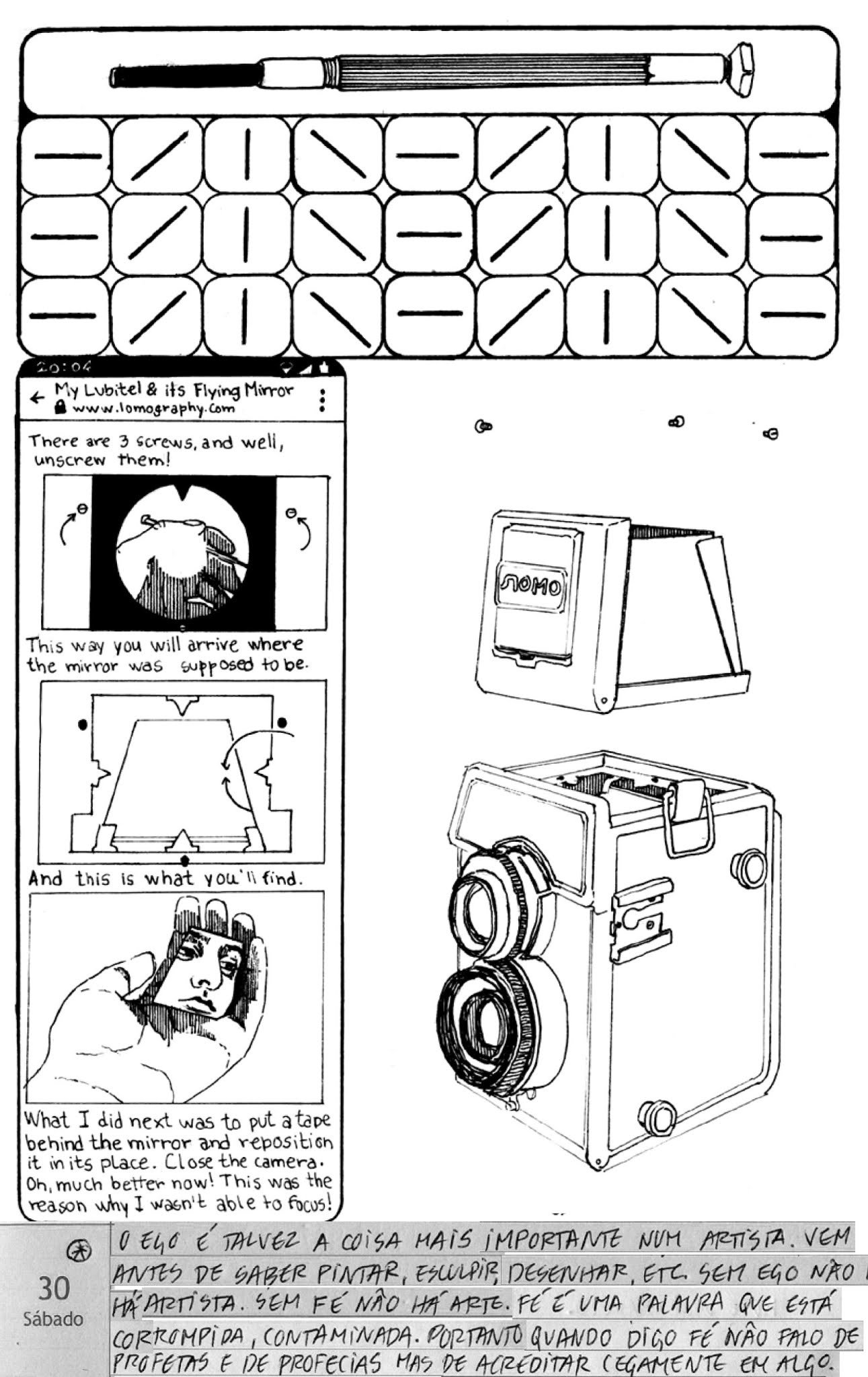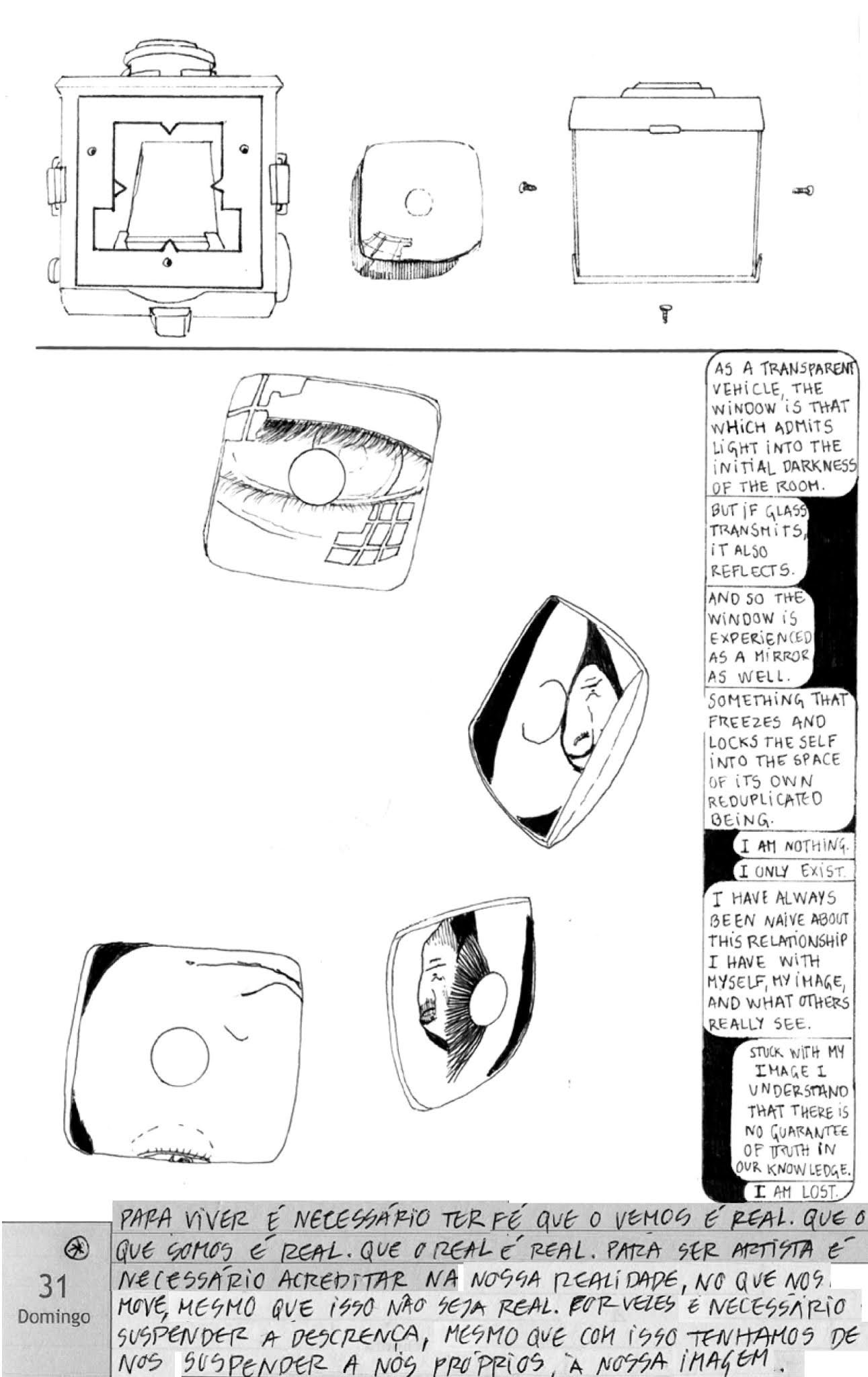Notas sobre Cult of the Lamb, Stardew Valley e algumas generalidades inócuas sobre videojogos
/Cult of the Lamb, 2022
Para o João Coles,
que ando a tentar convencer a jogar Stardew Valley
Um adorável cordeiro atravessa labirintos e combate monstros para libertar criaturas igualmente adoráveis. Trá-los para o seu acampamento, constrói tendas, cozinha para eles. E rezam juntos. E de vez em quando o cordeirinho sacrifica um dos amigos em rituais de sangue. Já tinha dito que o cordeiro é o líder de um culto satânico?
*
Os verbos ficam claramente definidos desde o início: combater para recolher recursos (as demais criaturas são também recursos), gerir esses recursos, e com eles adquirir mais e melhores ferramentas de combate, que permitem enfrentar um maior número de inimigos, e mais fortes. Quem jogou roguelikes como The Binding of Isaac reconhecerá os elementos do combate. Quem jogou jogos como Animal Crossing reconhecerá a fase de gestão. A dinâmica é construída em torno de estes dois sistemas interdependentes, criando ciclos que se alimentam e introduzem variedade. A referência arquitectural óbvia é Stardew Valley.
*
Stardew Valley, 2016-2023. Imagem da minha Vila Tatiana.
Stardew Valley é um jogo de profundidade. A simplicidade, quase rudeza, da superfície esconde uma complexidade de sistemas que nos ancoram ao espaço e à narrativa do jogo. Um mundo que se expande constantemente, desdobra, aprofunda, oferece novas formas de interagir com o espaço, ao mesmo tempo que os pixeis toscos que dão forma aos habitantes do vale adquirem identidade, investimos neles sentido e sentimentos. Criamos raízes. Stardew é um jogo a que inevitavelmente regressamos como quem regressa a um lugar onde foi feliz.
Cult of the Lamb, por outro lado, é um jogo de superfícies. Gráficos estilizados como cartoons, tem algo do humor físico, visceral e anárquico, de Ren & Stimpy. Ciclos acelerados, saltamos de um modo para o outro sem necessidade de aprofundar a nossa perícia ou estabelecermos relações significativas. Este não é um espaço que habitamos. Apenas um lugar por onde passamos, fazemos o que temos a fazer, seguimos com a nossa vida.
*
A pergunta natural é "vale a pena jogar Cult of the Lamb?" Não tenho uma resposta. Assim como não tenho uma resposta à pergunta "vale a pena jogar jogos?". Tive experiências profundas e significativas a jogar alguns jogos – Stardew Valley está nessa categoria. Mas admito que há algo derivativo e até pernicioso em muitas dos jogos que joguei. Junk food para a alma. Belo, bem executados, mas, ao fim do dia, superficiais, esquecíveis.
Mas talvez a este pensamento subjaza uma falácia, ao considerarmos criticamente jogos como objectos culturais. Por vezes esquecemo-nos que jogos são, bem, jogos. Que são objectos lúdicos, que cumprem funções extra-culturais.
*
A série de jogos Diablo é notável por ter os seus níveis de estupidez no máximo. E com isto não tenciono insultar esta vetusta e respeitada série: são jogos excepcionalmente bem executados, desenvolvidos durante anos por um dos melhores estúdios, e que consistem em alegremente aviar largas turbas de monstros, uns atrás dos outros. São repetitivos, violentos, viciantes. Contém linhas narrativas, mas são menos do que secundárias. Apenas pretextos para o combate.
A Lisa vive em Nova Iorque. Trabalhámos juntos alguns anos. As nossas reuniões de trabalho eram pontuadas por referências a jogos. Convenci-a a jogar Stardew Valley e ela concorda que é um dos melhores jogos alguma vez criados (a Lisa é uma mulher inteligente). Em Julho deste ano mudei de emprego. Tenho saudades das minhas conversas com a Lisa. Nas férias de Natal tencionamos ambos comprar Diablo IV e passar longas horas a esquartejar juntos horda atrás de horda de monstros.
Isto para dizer que jogos criam espaços de interacção humana. Que operam também como espaço mediador. Qualquer crítica tem de ter em atenção os aspectos funcionais com que potencializa as interacções humanas. Isto é, como o jogo funciona como jogo.
*
Seres humanos são viciados em esquecimento. Aquele estado em que perdemos noção de nós próprios, nos tornamos leves, e o tempo flui. Os jogos traficam em esquecimento. Quando exausto, depois de um dia de trabalho, tornam a viagem de comboio de regresso mais breve. Os jogos são uma das formas menos destrutivas que conheço de adquirir este dom. E esse é um dos maiores louvores de que sou capaz.