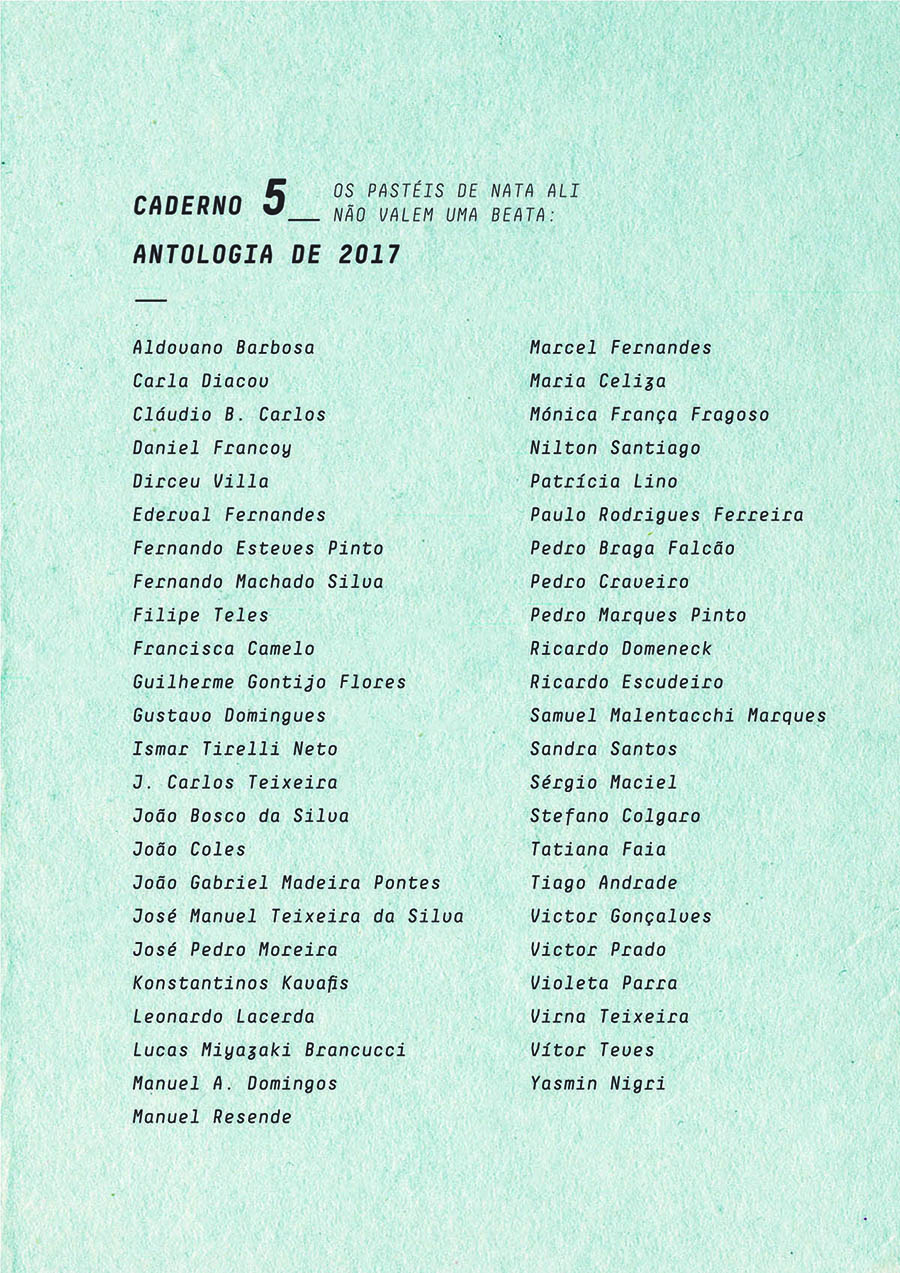Manuel Resende (1948-2020)
/Manuel Resende faleceu na semana passada, a 29 de Janeiro de 2020. Poeta, tradutor e um dos mais generosos homens de letras com quem tive a alegria de me cruzar. Servem estas breves linhas para o recordar e lamentar o seu desaparecimento. A primeira vez que me cruzei com Manuel Resende foi em princípios de 2011. Tinha eu então o projecto, um pouco estranho, mas que reuniu à sua volta algumas pessoas que estavam na altura a trabalhar na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, gente na chamada categoria de jovens investigadores, de trazer à faculdade algumas pessoas para passarem um dia a falar de uma literatura de que raramente se fala em Portugal, mas que tantas coisas tem em comum com a nossa, o que não devia ser motivo para explicar por que é que a devemos ler (o motivo para ler qualquer tipo de literatura não deve ser tanto caso para que nos vejamos ao espelho, mas por curiosidade e porque, como dizia Susan Sontag em Sob o Signo de Saturno, ler e escrever são formas de felicidade, se não de alegria), mas de alguma forma serve para explicar que se tratava, e trata, de uma lacuna, uma coisa em falta. Nesse Inverno de 2011, eu achava que o que faltava à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa era falar de literatura grega moderna, e mais especificamente dos seus poetas. Ora, porque o Centro de Estudos Clássicos dessa universidade é um lugar aberto e generoso, deram-nos espaço e apoio institucional para organizar a coisa. Sendo isto Portugal, apoio institucional não quer dizer pagar seja a quem for pelo seu tempo e para falar desse assunto, mas antes que nos foi cedido algum espaço na Faculdade, bem como o nome da instituição para explicar o nosso contacto às pessoas que queríamos convidar. Talvez porque fôssemos jovens investigadores, ou porque a literatura grega moderna é coisa que interessa a pouca gente, quase toda a gente que contactámos, mesmo os tradutores de autores gregos, nos disseram que não. Tivemos uma imensa dificuldade em reunir um painel e a dada altura começámos a distribuir os autores de quem queríamos falar por alguns alunos e jovens investigadores. Mas, ainda assim, faltava-nos alguém que de facto entendesse verdadeiramente alguma coisa de literatura grega. Em desespero de causa e tendo recebido a nega de toda a gente que sobre esses autores poderia ter falado, resolvi ser megalómana e enviar um email à Assírio e Alvim, pedindo-lhes o contacto de alguém que não conhecia, Manuel Resende, o tradutor de Axion Esti, a obra-prima de Odysseas Elytis, vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 1973. A editora cedeu-me o email, mas eu, esperando que se repetisse o não com um longo atraso na resposta ao email, como sucedera com outros convidados, pedi a um colega para se ir preparando para falar de Elytis enquanto esperávamos a resposta de Manuel Resende. Lá enviei o email. A resposta veio cinco minutos depois. Não só Manuel Resende aceitou vir até à Faculdade falar de Odysseas Elytis, enviou-me imediatamente, na resposta, o texto que pretendia ler, bem como uma tradução, inédita em livro, de um poema de Elytis que eu nunca lera, Canto Heróico e Lamento pela morte do Segundo Tenente da Albânia. Hoje escrevo este texto e, apesar de nunca ter sido particularmente próxima de Manuel Resende (mas dávamo-nos bem e de vez em quando correspondíamo-nos com dúvidas de grego antigo e moderno), sinto-me triste para lá do que se pode explicar com palavras e com os olhos cheios de lágrimas. Na altura, perante a resposta tão entusiasta e generosa de Manuel Resende, quando todos os outros nomes nos mandaram passear, fiquei, por uma parvoíce qualquer que me escapa, um pouco preocupada com as expectativas que este pequeno evento pudesse gerar num tradutor de renome. Dizia-me ele no email que tinha o texto pronto porque estava há uma década à espera de alguém na Faculdade de Letras que o convidasse a ir falar de Elytis. Manuel Resende veio, sentou-se connosco, leu do Áxion Esti, do Canto Heróico, do Monograma, podia ter lido da Maria Neféli, outra das obras-primas desse poeta maior do cânone europeu, lembrou-nos em toda aquela conversa que ler poesia e olhar para a vida dos poetas é uma maneira de mergulhar em profundidade não só na beleza do mundo mas num vasto repositório da nossa humanidade, que, parafraseando um poema de Jorge de Sena, pode ser difícil de reunir e manter. Manuel Resende, a ler Canto Heróico e Lamento pela morte do Segundo Tenente da Albânia, fez pela audiência naquele anfiteatro o que alguém que não confunde o que seja falar de poesia com falar de retórica deve fazer por nós, deixou-nos profundamente comovidos, e alguns de nós lavados em lágrimas. Quero crer que, por estas horas, Manuel Resende está no céu dos literatos, com Elytis, Kavafis, Seferis, Ritsos, e tantos outros escritores que ele traduziu, pacientemente a clarificar as suas dúvidas de tradução, para garantir que aqueles de nós que o queiram, poderão ler esses poetas que seriam de outra forma inacessíveis. Só nós é que estamos mais pobres, mas, pelo menos eu, agradecida do fundo do coração.
Muitas das traduções de Manuel Resende do grego moderno seguem inéditas, como suspeito que tantas outras coisas que ele foi fazendo o estão, coisas feitas como a tradução e a apresentação dos textos de Elytis, com amor, uma impecável qualidade, e por generosidade e cuidado, e seria bom, se por uma vez, não caíssemos no marasmo da indiferença que vai tolhendo a nossa cultura, que é como quem diz empobrecendo o modo como estamos vivos, e fôssemos pondo esses textos cá para fora.
Partilho aqui o link para as traduções e poemas de Manuel Resende que fomos publicando na Enfermaria ao longo do tempo.
Tatiana Faia
Oxford, 2 de Fevereiro de 2020